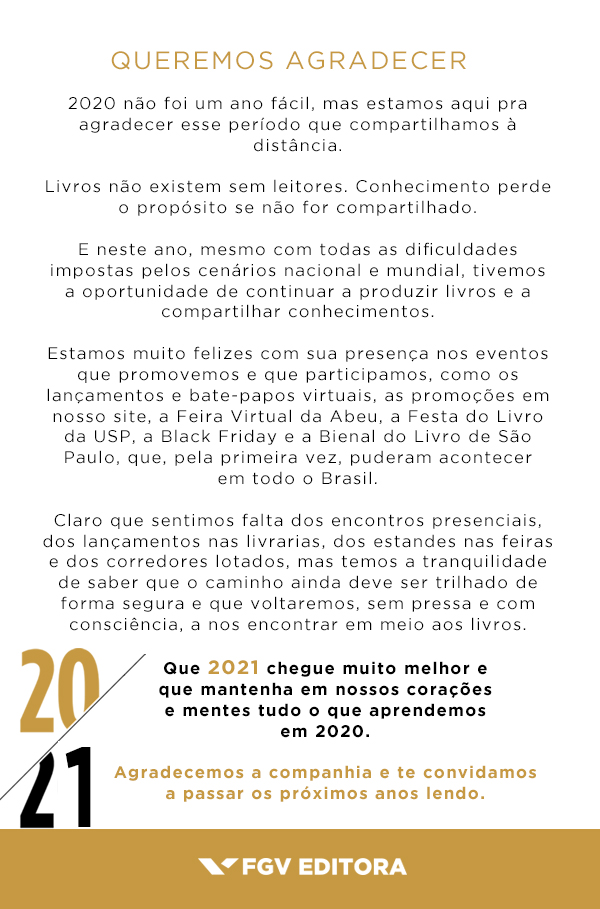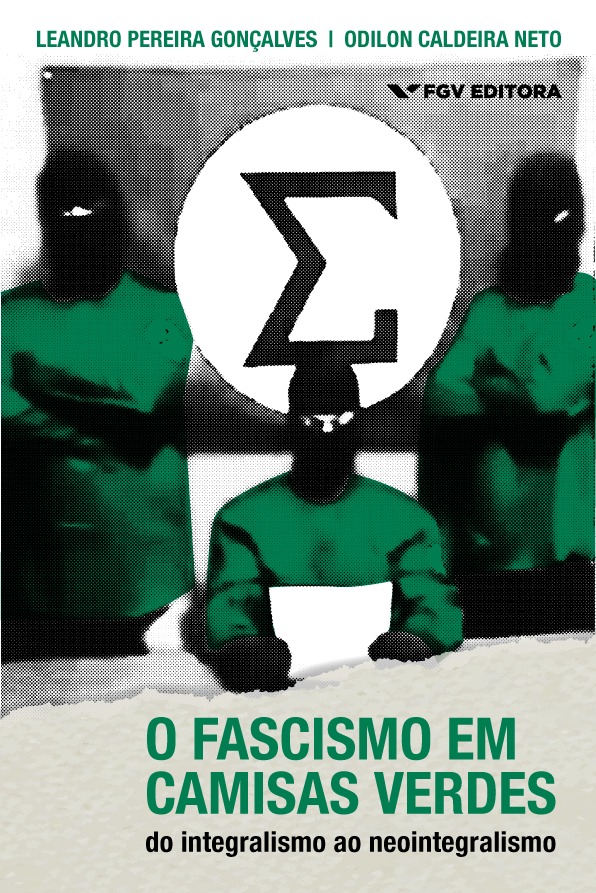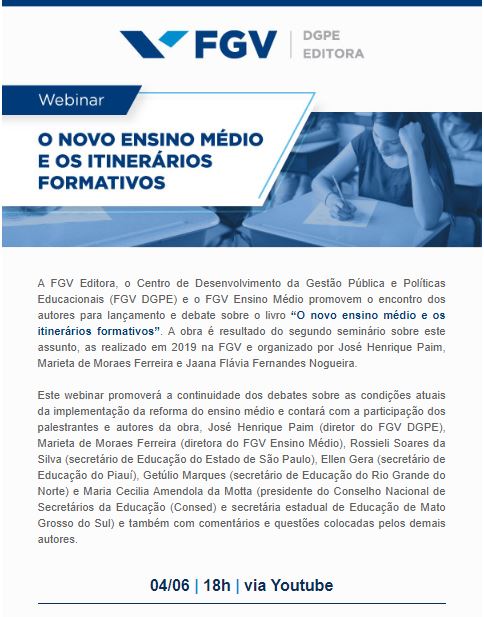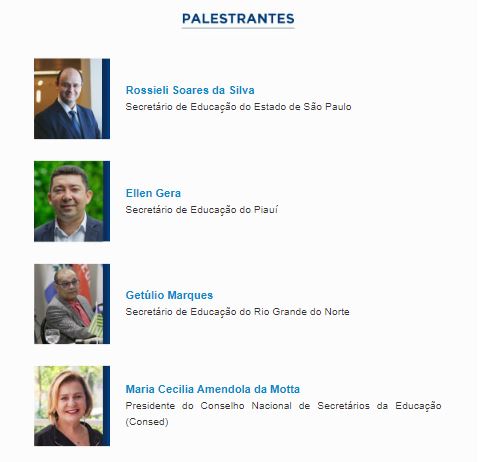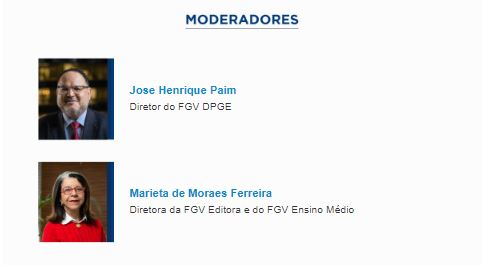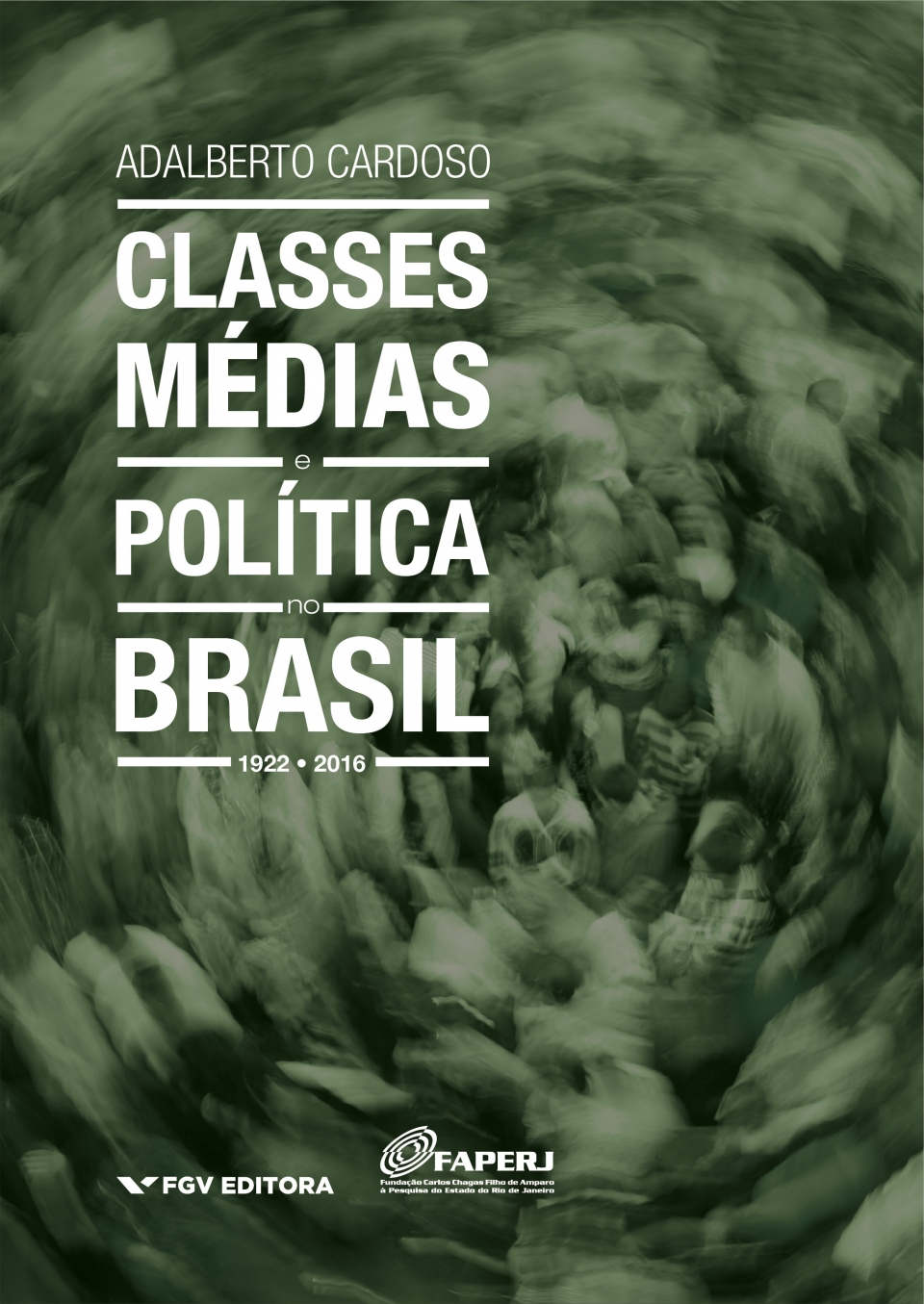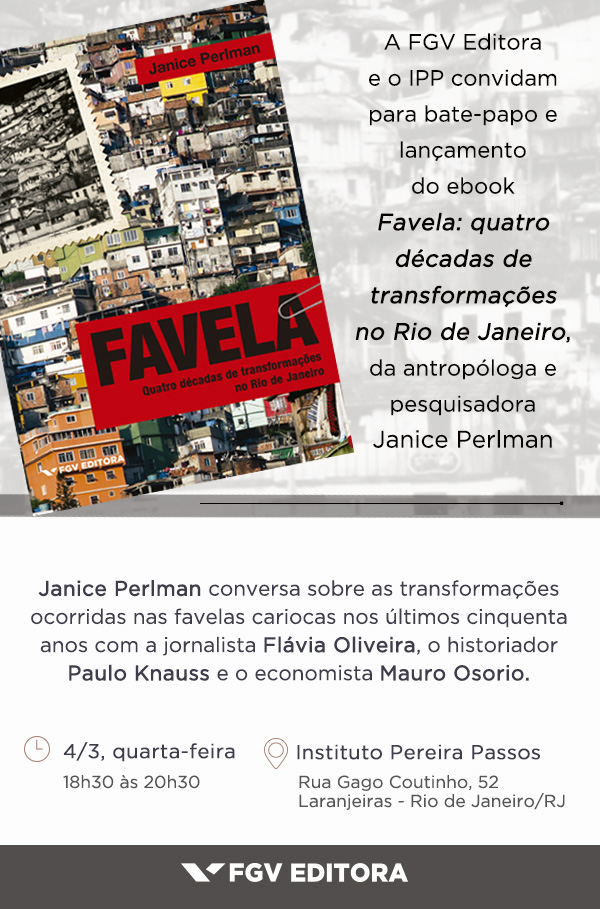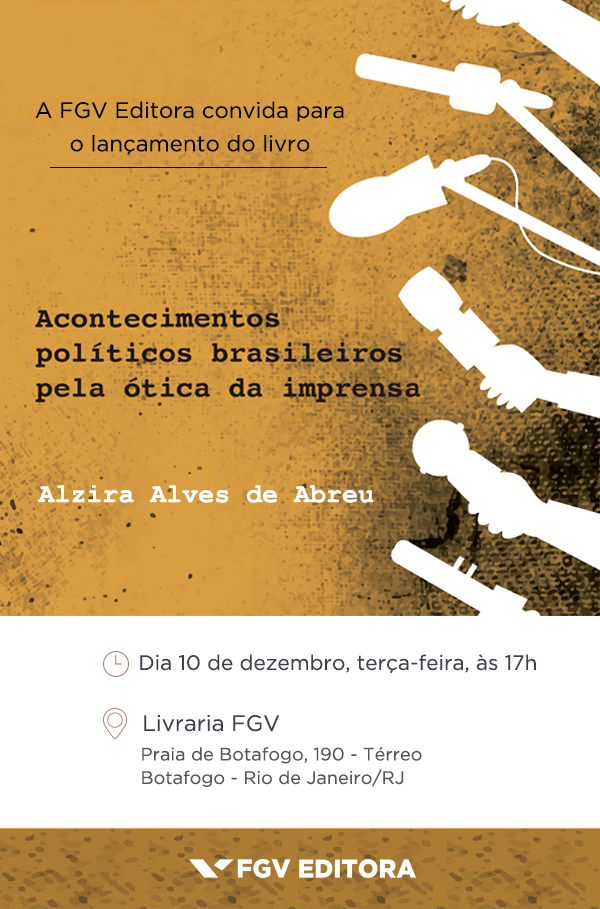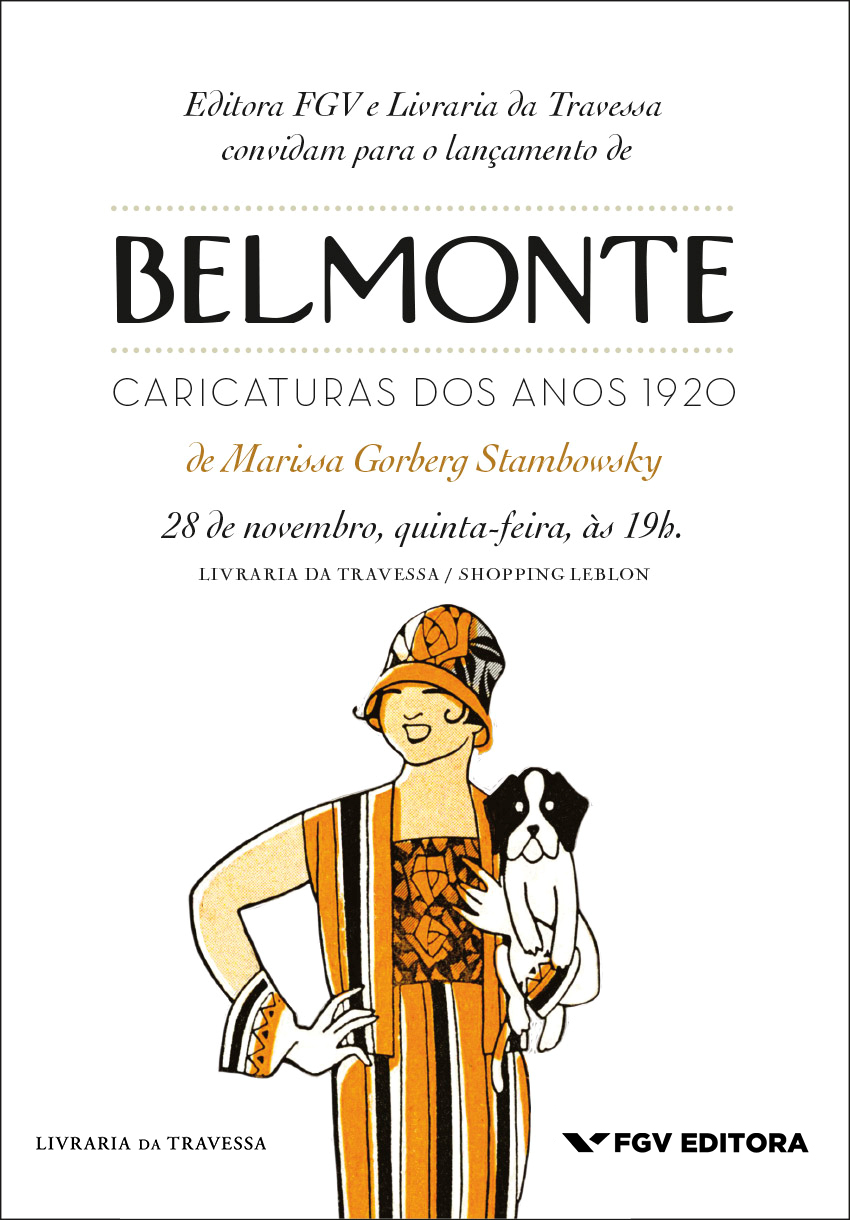Baseados em experiências americanas, como o Central Park Conservancy (CPC) e o Friends of the High Line, ambas em Nova Iorque, parcerias ocorridas no Afeganistão e a atuação da ONG Comunitas, de São Paulo, entre outros exemplos, os professores da Universidade de Columbia, Howard Warren Buffett e William Eimicke, apresentam as inúmeras perspectivas e resultados de parcerias entre setores público e privado.
As abordagens apresentadas em Investindo em valor social: gerando valor social com investimentos, publicada pela FGV Editora, partem da visão pregada em sala de aula pelos autores, que em seus cursos de gestão pública eficaz, inovação e filantropia, descrevem, com frequência, parcerias entre setores como um caminho mais eficaz para atender o interesse público.
De acordo com os autores, “A visão tradicional de como as sociedades gerenciam a si mesmas está mudando. O governo, por si, não tem conseguido cuidar das responsabilidades e dos custos crescentes dos problemas que enfrenta no mundo moderno: segurança pública, bem-estar social, relações internacionais, geração de empregos, moradias, energia, proteção ambiental, transportes, exploração espacial, pesquisa científica, justiça, e daí por diante. Além disso, a maioria dos indivíduos e das comunidades locais não quer que esses problemas importantes sejam tratados sem que eles sejam ouvidos, por mais bem-intencionado que seja o governo”.
A obra aponta que há soluções mesmo nas condições atuais do Brasil e apresenta melhores práticas em formação de parcerias, como: definir melhor objetivos e estabelecer cronogramas, calcular benefícios esperados e, talvez mais importante, a forma de envolver a sociedade civil na busca de novas e inovadoras soluções para o país.
Publicado em boa hora no Brasil, o livro pretende ajudar na reflexão que governo, setor privado, setor filantrópico e entidades da sociedade civil podem sim somar forças para lidar com problemas que parecem ser insuperáveis, tais como saúde, segurança, pobreza rural e infraestrutura.
Confira os comentários sobre a obra, a mensagem de Warren Buffett na íntegra e a introducação dos autores.
“Investindo em valor social” oferece um argumento persuasivo e um arcabouço prático para o modo como a colaboração entre a filantropia, os governos e o setor privado pode levar soluções duradouras para os maiores desafios do mundo”. Bill Gates
“O segredo do sucesso muitas vezes envolve o reconhecimento do poder das parcerias. Investindo em valor social mostra como se pode obter retornos extraordinários quando governos, empresas, organizações sem fins lucrativos e cidadãos se unem para trabalhar juntos”. Michael Bloomberg
“Baseado numa abordagem fundamentada em pesquisas e em testes, que servirá de alicerce para a construção de parcerias. Ao aprender com as estratégias buscadas nessas histórias, você descobrirá exatamente por que sou tão esperançoso quanto ao futuro. Você apreciará este livro, e aposto que também será inspirado por sua mensagem de otimismo e de ação”. Warren Buffett
Uma mensagem de otimismo
WARREN E. BUFFETT
Sou otimista, um otimista muito realista. Você pode perceber isso lendo os relatórios anuais da Berkshire e os artigos de opinião que escrevi ao longo dos anos. Para começar, acredito que os padrões de vida no mundo continuarão a melhorar muito no futuro, como vêm melhorando nos Estados Unidos desde que nossos antepassados descobriram o molho secreto do país.
Os Estados Unidos estiveram à frente com um sistema inovador de mercado baseado num estado de direito e na igualdade de oportunidades. Essa combinação trouxe um crescimento incrível durante a minha vida — o PIB real per capita aumentou seis vezes desde meu nascimento em 1930. E nossa economia continuará a beneficiar-se de uma liberação constante de potencial humano.
Nunca isso é tão evidente quanto quando encontro alunos universitários. Todo ano, grupos de 40 faculdades e universidades visitam-me em Omaha para falar do mundo que herdarão e melhorarão. Minha mensagem é sempre a mesma: apesar de dificuldades que enfrentemos, confio que nossos netos viverão num mundo com muito mais abundância do que temos hoje. Depois de nossas conversas, sempre saio me sentindo ainda mais otimista quanto ao futuro.
Para alunos como esses, este livro será um recurso útil. Ele se baseia numa abordagem bem pesquisada e bem testada, que servirá de arcabouço para a construção de parcerias. À medida que você for aprendendo com as estratégias buscadas nas histórias a seguir, você entenderá por que tenho tantas esperanças para o futuro. Você vai gostar deste livro, e aposto que também será inspirado por sua mensagem de otimismo e de ação.
Introdução
HOWARD W. BUFFETT E WILLIAM B. EIMICKE
No meio de Nova York há um espaço verde, vasto e aberto — algo que faz parte da essência de Manhattan tanto quanto a silhueta de seus arranha-céus. Todo ano o Central Park recebe mais de 40 milhões de visitantes do mundo inteiro. Muitos enxergam nele um parque de projeto paisagístico perfeito, com manutenção imaculada. Porém, não muito tempo atrás, ele era uma das áreas mais perigosas daquilo que era então a capital dos homicídios dos Estados Unidos. Nos filmes populares — Forasteiros em Nova York, Noivo neurótico, noiva nervosa, Seis graus de separação — o Central Park simbolizava o motivo de pouca gente querer viver em Nova York, de os europeus serem aconselhados a não visitar a cidade, e de nenhum nova-iorquino safo se aventurar a sair depois que escurecia.
O que mudou? Nas décadas de 1980 e de 1990, a comunidade em torno mobilizou-se para criar a Central Park Conservancy (CPC), recrutou centenas de voluntários, obteve milhões de dólares de apoio, contratou líderes e funcionários qualificados e apaixonados, e fez uma parceria com a prefeitura para gerir o parque como se fosse seu. O governo da cidade* ainda é dono do parque, e ele está aberto a todos de graça — mas a CPC o gere e levanta o dinheiro para pagar a maior parte de seus custos operacionais e de capital. Foi uma abordagem incomum na época, mas esse tipo de parceria criativa entre setores está se tornando cada vez mais comum. Ela não aconteceu da noite para o dia, e demandou uma liderança constante, incansável e visionária dos membros da CPC e do governo da cidade. Por melhor que seja essa abordagem, os parceiros ainda estão tentando melhorá-la — e estão ajudando outros parques ao redor do mundo a replicar seu sucesso.
A algumas quadras dali, em Chelsea, perto de Hell’s Kitchen, bairro que já teve péssima fama e já foi muito perigoso, há um parque construído sobre os trilhos abandonados de uma linha aérea de trem de carga que outrora transportava carne. Uma organização comunitária bem organizada com líderes inspirados convenceu a cidade a não demolir os trilhos, e, juntos, comunidade e prefeitura construíram um belo parque com vistas panorâmicas que atrai quase 8 milhões de visitantes por ano. Assim como a CPC, a organização sem fins lucrativos Friends of the High Line cuida do parque para a cidade, e levanta fundos de doadores para cobrir a maioria dos custos operacionais, bastante consideráveis.
A Central Park Conservancy e a Friends of the High Line são excelentes exemplos de parcerias entre setores: colaborações voluntárias entre organizações dos setores público, privado, ou filantrópico que realizam objetivos acordados mutuamente. Hoje, parcerias oferecem bens e serviços de maneira mais eficiente e mais eficaz, e com maior benefício para a sociedade, do que uma organização jamais poderia fazer sozinha. Os dois parques também mostram como as parcerias entre setores diferentes — nesses casos, organizações sem fins lucrativos em parceria com o governo — com frequência conseguem superar as limitações que constrangem organizações num setor isolado. As organizações do setor privado também trazem contribuições específicas para as parcerias, em geral obtendo resultados melhores para programas que beneficiam o público, para além de seu propósito lucrativo.
Na School of International and Public Affairs da Columbia University, onde damos aula, exploramos parcerias entre setores como estudos de caso. Nossos alunos de pós-graduação são incrivelmente inteligentes e diversos; nossos ex-alunos espalham-se por mais de 150 países, e têm currículos profissionais em organizações governamentais, lucrativas e filantrópicas. Porém, todos unem-se em torno do objetivo comum de aprimorar a sociedade. Em nossos cursos de gestão pública eficaz, de inovação e de filantropia, com frequência descrevemos parcerias entre setores como um caminho mais eficaz para atender o interesse público. Do inovador parque urbano High Line no coração de Nova York aos muitos outros exemplos deste livro — a transformação digital dos serviços governamentais na Índia, as revitalizações econômicas e agrícolas no Afeganistão, e daí por diante —, organizações de todos os três setores estão se unindo de maneiras diferentes para atingir os objetivos de suas organizações individuais e servir o bem maior.
POR QUE PRECISAMOS DE PARCERIAS?
A visão tradicional de como as sociedades gerenciam a si mesmas está mudando. O governo, por si, não tem conseguido cuidar das responsabilidades e dos custos crescentes dos problemas que enfrenta no mundo moderno: segurança pública, bem-estar social, relações internacionais, geração de empregos, moradias, energia, proteção ambiental, transportes, exploração espacial, pesquisa científica, justiça, e daí por diante. Além disso, a maioria dos indivíduos e das comunidades locais não quer que esses problemas importantes sejam tratados sem que eles sejam ouvidos, por mais bem-intencionado que seja o governo. Geralmente, uma comunidade terá melhores soluções cotidianas do que as autoridades, desde seus pontos de observação na prefeitura, ou longe na capital.
A descentralização das decisões governamentais no nível local pode ajudar, mas as decisões econômicas são cada vez mais influenciadas por desenvolvimentos globais, os quais têm implicações tanto positivas quanto negativas. Do lado bom, a globalização melhorou as vidas de bilhões de pessoas no mundo todo, e grande parte desse benefício foi possibilitado por organizações com parcerias que atravessam setores e fronteiras nacionais. Ao mesmo tempo, a globalização contribuiu para a crise financeira de 2008 e para seu duradouro rescaldo: proprietários de imóveis deslocados, contas de aposentadoria esvaziadas, acesso limitado a financiamentos e desemprego estrutural.
Até agora, a globalização parece ter reduzido a desigualdade em muitos países e exacerbado-a em outros. As inovações e as eficiências possibilitadas pela globalização também criaram um futuro incerto para muitos trabalhadores no mundo inteiro. Por exemplo, a era vindoura da automação poderia funcionar como uma segunda revolução industrial nas décadas a seguir, com o potencial de aumentar significativamente a eficiência e a conveniência. Simultaneamente, milhões de trabalhadores podem ser substituídos por robôs, piorando níveis já perigosos de desigualdade.
Como discutimos no capítulo 1, o governo costumava ser o líder na resposta a grandes desafios na sociedade, como a pobreza durante a Grande Depressão. No mundo de hoje, porém, as burocracias governamentais parecem lentas, rígidas, desajeitadas, e muitas vezes são paralisadas por conflitos e impasses partidários. Pessoas demais em nosso país (e no mundo inteiro) estão subempregadas, prejudicadas e frustradas. O plebiscito do Brexit na Grã-Bretanha e a eleição presidencial de 2016 refletem o pessimismo dos eleitores da classe trabalhadora e de renda média, não apenas quanto a seu futuro, mas também quanto às perspectivas para seus filhos e netos.
Muitas pessoas ao redor do mundo acreditam que nossos desafios são grandes demais e complexos demais para serem resolvidos. Esses desafios não serão resolvidos por nenhum país, organização, ou mesmo setor individuais, mas mesmo assim existem soluções para esses desafios. Líderes de organizações de todos os tipos vêm desenvolvendo novas estratégias e juntando-se para enfrentar os problemas mais arraigados e intratáveis do nosso mundo atual — progresso esse bem documentado no livro The great surge, do economista Steven Radelet. Somente nas últimas décadas, a pobreza extrema diminuiu pela metade, bilhões de pessoas passaram a ter acesso a água potável, e a mortalidade de crianças com menos de cinco anos caiu quase 60%.11 Sem dúvida, um progresso incrível, mas muito mais é necessário.
Nos capítulos seguintes, você lerá a respeito de como parcerias intersetoriais estão se tornando o método mais eficaz para realizar o bem público em larga escala no século XXI — melhorando dramaticamente programas ao compartilhar responsabilidades que os governos, sozinhos, não suportam. Porém, a implementação dessas novas abordagens exige inovação sem precedentes, inclusividade e soluções sustentáveis, e elas só terão sucesso caso se concentrem em criar valor para todos os envolvidos.
MUDANÇAS NO HORIZONTE
Grandes alterações nas características de nossas populações, de seus valores e da distribuição de riqueza estão acontecendo à nossa volta. Por exemplo, a geração do baby boom foi superada em tamanho e em influência pela dos millenials. Ao mesmo tempo, espera-se que cerca de US$ 60 trilhões de riqueza global mudem de mãos nos próximos 50 anos, e 86% dos futuros herdeiros estão interessados em investimentos sustentáveis — incluindo ações ou avanços, por parte das empresas, que melhoram a sociedade. Segundo Deloitte, 2013 marcou o primeiro ano em que os millennials começaram a determinar que o objetivo primário das empresas era gerar valor social — não gerar lucros. Apenas entre 2012 e 2014, o investimento socialmente responsável aumentou mais de 76%, e, em 2016, constituiu mais de um entre cada quatro dólares investidos por gestores profissionais. Um estudo do Pew Research Center verificou que 84% dos millennials afirmam que fazer uma diferença positiva no mundo é mais importante para eles do que o reconhecimento profissional. O que esses números indicam não é uma tendência temporária ou passageira, mas uma mudança de paradigma em como a sociedade valora a si própria — o valor sendo definido pelo propósito e não por uma marcha incansável na direção do lucro.
A crise crescente da desigualdade econômica nos Estados Unidos é para alguns um claro exemplo de “sucesso” — mas que possivelmente está se tornando desastrosa para todos nós. Joseph Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel, concorda, dizendo que a solução real para a crise da desigualdade é concentrar-se na comunidade e não no interesse individual:
De fato, somos uma comunidade, e todas as comunidades ajudam aqueles que são menos afortunados em seu meio. Se nosso sistema econômico produz tantas pessoas sem empregos, ou pessoas com empregos que não proporcionam o rendimento mínimo para se viver, pessoas que dependem do governo para alimentar-se, isso significa que nosso sistema econômico não funcionou como deveria.
COMO PODEMOS OBTER RESULTADOS MELHORES PARA TODOS?
A fim de estar à altura de nosso potencial coletivo de resolver esses complexos desafios, acreditamos que um valor nuclear de compartilhamento de sucesso — entre organizações, indivíduos, comunidades locais e nosso ambiente — permitirá à sociedade transformar a maneira como define e realiza seus objetivos. O professor Stiglitz esboçou políticas que poderiam aumentar o crescimento e a igualdade econômica, criando aquilo que ele chama de “prosperidade compartilhada”. Concordamos que a sociedade consegue fazer melhor, e de maneiras nem sempre notadas já estamos realizando grandes coisas, frequentemente por meio de colaborações novas e empolgantes. É este, de fato, o tema deste livro. Discutimos o quanto é importante que os parceiros estabeleçam objetivos claros e mutuamente benéficos, concordem a respeito de medidas de desempenho apropriadas e factíveis, unam aqueles que conseguem fazer o serviço, identifiquem lugares que querem ajuda e precisam dela, e implementem processos que levarão ao sucesso.
A tecnologia e a inovação, por si, não nos farão progredir. O economista Robert Gordon atraiu muita atenção para sua teoria de que a taxa de inovação está diminuindo dramaticamente, e, portanto, devem-se baixar as expectativas para o aprimoramento futuro da raça humana. Mesmo que a taxa de inovação diminua, ainda podemos melhorar substancialmente nossas sociedades por meio de um gerenciamento centrado no desempenho. Boas mensurações de sucesso podem afetar dramaticamente nossos resultados. Como escreveu Drucker no começo da década de 1970, “cabe a esta geração de gerentes fazer com que as instituições da sociedade de organizações, começando com a empresa comercial, atuem em prol da sociedade e da economia; em prol da comunidade; e em prol também do indivíduo”.
Aquilo que Drucker dizia 40 anos atrás é semelhante àquilo que os millennials dizem hoje: as empresas privadas devem ganhar dinheiro e fazer o bem ao mesmo tempo. Drucker também defendia a colaboração intersetorial com o setor sem fins lucrativos para tornar o mundo um lugar melhor. Ao longo das últimas décadas, o número e a influência das organizações não governamentais (ONGs), incluindo agências de assistência sem fins lucrativos, organizações comunitárias, fundações e organizações de advocacy, aumentaram quase exponencialmente na maioria dos países ao redor do mundo. De pequenas associações de bairro a megafundações e a organizações de serviço globais, esses grupos estão alimentando os famintos, abrigando os sem-teto, curando os doentes, ensinando as crianças e promovendo a sustentabilidade. Em muitos casos, quando as iniciativas filantrópicas se ampliam, são feitas em parceria com o governo.
Esforços cooperativos como esses não são um fenômeno do século XXI. Há séculos os governos contratam organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos para concluir projetos, fornecer bens e prover serviços. O que distingue os modelos de parceria atuais e futuros são os motivos pelas quais as partes se unem, a maneira colaborativa com que projetam e implementam seus acordos, e como medem o sucesso individual e coletivo.
O INVESTIMENTO EM VALOR SOCIAL PODE AJUDAR A PRODUZIR RESULTADOS MELHORES
Uma mensagem importante deste livro é que devemos ser mais inteligentes em nossas tentativas de fazer do mundo um lugar melhor. “Estar indo bem não nos dispensa de tentar melhorar”, e, ao longo deste livro, exploramos novas maneiras de agregar ou de aumentar o valor para a sociedade melhorando-se a gestão, o planejamento e a mensuração de desempenho. Não somos os primeiros a tentar ser mais analíticos quanto aos efeitos de nossos investimentos públicos ou filantrópicos, e esperamos contribuir para este campo de rápido desenvolvimento. Argumentamos que parcerias que combinam as forças de múltiplos setores — governo, empresas e filantropia — podem render o maior benefício público, especialmente quando estruturadas com integridade e inclusão.
Este livro apresenta um arcabouço para criar valor social cujo modelo vem de um dos paradigmas de investimento de maior sucesso na história: o investimento em valor. Assim como o investimento em valor, o investimento em valor social emprega uma estratégia de investimento de longo prazo que tenta destravar o valor oculto ou intrínseco, e concentra-se na gestão eficaz por meio de uma abordagem de cinco elementos: processo, pessoas, lugar, portfólio, e desempenho.
No capítulo 2, apresentamos este arcabouço e descrevemos suas origens, sua história e seu desenvolvimento. Os capítulos que se seguem apresentam estudos de caso de parcerias intersetoriais, cada uma das quais exemplificando um dos cinco elementos do arcabouço. Esses casos são pareados com uma análise e com as bases teóricas de cada elemento. Em todos os casos, excetuando um, as parcerias que descrevemos foram desenvolvidas de modo independente e sem conhecimento da abordagem de investimento em valor social. Se não são necessariamente uma adaptação perfeita do arcabouço, acreditamos que essa independência reforça a validade da ampla aplicabilidade do modelo.
Esse novo arcabouço de gestão começa com o primeiro elemento: a necessidade de um processo eficaz que estruture parcerias bem-sucedidas entre organizações. Isso é especialmente importante em situações complexas que exigem ação coordenada e programas abrangentes. Os parceiros precisam desenvolver uma abordagem plenamente integrada, dependente de organizações de vários setores, para desenvolver soluções que permanecerão além de seus investimentos iniciais. A fim de ilustrar esse elemento, no capítulo 3 apresentamos uma alternativa na Índia projetada para incentivar o crescimento econômico e as oportunidades por meio de uma parceria liderada pelo governo nacional. A iniciativa fornece identificação biométrica oficial para 1,3 bilhão de residentes do país, resultando numa distribuição mais eficiente, eficaz e honesta de benefícios financiados publicamente. Esses programas também facilitam a poupança, o investimento e a geração de empregos, e elevam o padrão de vida para famílias de baixa renda. Dando seguimento a esse caso, no capítulo 4 detalhamos o primeiro elemento e tiramos exemplos das parcerias na Índia.
Nos capítulos 5 e 6 discutimos como as parcerias intersetoriais dependem de pessoas, as quais são seus mais importantes ativos. Os líderes devem montar equipes de capital humano diverso e trabalhar com outros líderes de maneira colaborativa, sustentada e descentralizada. A fim de entender como isso pode funcionar bem no mundo real, consideramos a liderança da Central Park Conservancy e a rede de parceiros que criou a High Line. Hoje a CPC estabelece parcerias com outras conservancies em cidades dos Estados Unidos para trazer recursos e conhecimento privado para o gerenciamento de espaços públicos. A CPC trabalhou com a Universidade de Colúmbia e com outras universidades para projetar e implementar programas de treinamento e de certificação para gestores de parques urbanos — incentivando a próxima geração de líderes, que ajudará a trazer as melhores práticas da CPC para parques do mundo inteiro.
Nos capítulos 7 e 8, ilustramos como parcerias bem-sucedidas empoderam constituintes enquanto coproprietários de resultados usando uma estratégia baseada no lugar e uma mentalidade de planejamento cooperativo. Isso enfatiza a importância de projetar, operar e implementar os esforços de uma parceria tendo em vista objetivos desenvolvidos pelas partes interessadas. A fim de avaliar melhor as oportunidades e os desafios de aplicar esse elemento, exploramos uma parceria intersetorial para o fortalecimento da economia rural no Afeganistão ocidental apesar de décadas de conflito.
Nos capítulos 9 e 10, discutimos maneiras como parceiros de setores distintos podem coinvestir seus recursos num portfólio para diversificar o risco e obter maior impacto. A fim de ilustrar esse aspecto do investimento em valor social, descrevemos o trabalho de uma ONG inovadora, composta de líderes do setor privado no Brasil, chamada Comunitas. Esses líderes criaram um programa chamado Juntos, que une o conhecimento empresarial e as finanças, doadores filantrópicos e a equipe da Comunitas numa parceria com prefeituras interessadas para aumentar a eficiência e a eficácia de programas governamentais selecionados em conjunto — tudo em colaboração direta com os habitantes locais.
Por fim, nos capítulos 11 e 12, discutimos o quinto elemento do investimento em valor social, que se volta para a projeção e para a mensuração do desempenho a fim de entender o valor intrínseco que um programa ou uma parceria pode criar para a sociedade. Documentamos como o ex-prefeito Michael Bloomberg, de Nova York, usou parcerias baseadas em desempenho para revolucionar a segurança pública, salvando vidas e propriedades, e aumentando dramaticamente a qualidade de vida na cidade. Então apresentamos uma fórmula que pode ajudar parceiros — seja no setor público, privado, ou filantrópico — a comparar o impacto social positivo previsto de diferentes programas que servem o bem público. Ao levar em conta variáveis-chave e um objetivo mensurável de impacto social (em áreas como segurança contra incêndios, energia renovável, ou a pequena agricultura), os parceiros podem calcular uma taxa de retorno de impacto por dólar gasto. Capacitar os parceiros para comparar programas similares que visam produzir resultados positivos significa que eles podem determinar quais opções trarão o maior benefício para a sociedade. A fórmula é um ponto de partida e um passo importante para uma metodologia acessível e robusta de mensuração de parcerias intersetoriais.
Acreditamos que todo o potencial do arcabouço de gestão de processo, pessoas, lugar, portfólio e desempenho pode realizar-se quando aplicado por meio de parcerias intersetoriais. Nossos estudos de caso e suas análises ilustram como os talentos e os recursos de um parceiro podem complementar os outros e ampliar o impacto social positivo, além da eficiência de uma empreitada.
Porém, nem todas as parcerias têm sucesso. No capítulo 13, exploramos a história admonitória dos complexos investimentos público-privados para as Olimpíadas de Verão de 2016 no Rio de Janeiro. Esse capítulo examina as parcerias capitaneadas pelo governo para revitalizar a área portuária e o sistema de transporte público da cidade, dilapidados. Nesse caso, vários elementos do arcabouço ficaram faltando, e os resultados foram desiguais: veio a corrupção, algumas partes interessadas perderam direitos, e muitas instalações olímpicas foram praticamente abandonadas ou viraram ruínas.
COMO CHEGAMOS AQUI E POR QUE ISSO IMPORTA?
O modelo moderno de parceria intersetorial desenvolveu-se ao longo de quase um século de experimentações no envolvimento do governo com os setores privado e filantrópico, começando com os programas do New Deal capitaneados pelo presidente Franklin D. Roosevelt. A Grande Depressão deixou na pobreza milhões de famílias que anteriormente se sustentavam, e somente as agências governamentais tinham o tamanho, o escopo, o poder e a liderança para associar-se a empresas privadas e a organizações de caridade para aliviar sua pobreza. Enquanto muitos países deterioraram, caindo na anarquia e na ditadura, o governo americano fez com que empresas privadas e organizações de caridade trabalhassem juntas para a recuperação. A Segunda Guerra Mundial aumentou a autoridade do governo para “liderar” seus parceiros privados e para atender a demanda de armas e de provisões para todas as Forças Aliadas. Porém, as décadas resultantes de parcerias capitaneadas pelo governo incharam o setor público, e a confiança do público na capacidade de realizar trabalhos importantes de maneira eficiente foi perdida.
Seguiu-se o movimento de privatização. Ronald Reagan e Margaret Thatcher lideraram o crescente tsunami antigovernamental, e seguiram-se os projetos públicos com gestão privada. Muitos desses programas andavam mais rápido, custavam menos ao governo e produziam resultados visíveis. Porém, a privatização tinha suas próprias limitações, incluindo um foco predominante em lucros de curto prazo, deixando de lado outras considerações importantes, licitantes que exageraram seus resultados e fornecedores que evitaram trabalhar duro para alcançar comunidades e eleitores (que muitas vezes tinham a maior necessidade). Alguns estudiosos afirmam que em certos casos a privatização simplesmente substituiu um monopólio público ineficiente por um monopólio privado, oferecendo aos consumidores pouco mais a preço maior.
O fenômeno de reinvenção do governo da década de 1990 concentrou-se em melhorar como o governo funciona, e não em substituí-lo por empresas privadas. Essa reinvenção incluiu alguma descentralização da tomada de decisões, maior participação comunitária e novos contratos com organizações sem fins lucrativos para entrega de serviços. Sob muitos aspectos, ela preparou o cenário para a ascensão das parcerias intersetoriais ao ressaltar as relações de sucesso entre governos e organizações comunitárias, assim como colaborações entre órgãos federais, estaduais e municipais, e, ocasionalmente, empresas privadas. Porém, a reinvenção também reforçou a ideia hoje antiquada de que o governo deveria ser a única fonte de novas ideias de políticas, de desenvolvimento de programas, e ser o arquiteto das mensurações do sucesso. A reinvenção também não antecipou o crescimento substancial no financiamento e nas soluções inovadoras de políticas sociais e públicas que viriam do setor filantrópico no século XXI.
Hoje, grandes fundações e organizações sem fins lucrativos lideram parcerias com a disposição de oferecer capital sem custo e a baixo custo a longo prazo, e com um fogo aguçado em impacto social mensurável. Aqui também existem desafios, como discutiremos, e aquilo que essas organizações percebem como valor social desejado pode diferir daquilo que querem as partes interessadas de cada comunidade.
≈≈≈
Para resolver muitos dos mais importantes desafios que hoje enfrentamos — seja a desigualdade desestabilizadora, a queda no número de empregos com um salário suficiente para se viver, solos degradados e produção alimentar, a mudança climática nociva, ou uma carência de escolas e de moradias acessíveis e de qualidade para todos —, temos de trabalhar em parceria. Isso porque nenhum setor isolado, agindo sozinho, está devidamente equipado para projetar as abordagens de longo prazo necessárias, para empregar as vastas quantidades de capital necessárias e para catalisar um programa de desenvolvimento liderado pelas comunidades.
As parcerias têm o potencial de maximizar os atributos positivos de cada setor ao mesmo tempo que minimizam suas fraquezas. As parcerias que limparam o Central Park e criaram a High Line, entre outras que discutimos em maiores detalhes, nos oferecem exemplos úteis de parcerias intersetoriais que produziram um valor social maior do que um setor conseguiria sozinho. Ao mesmo tempo, nesses casos e nos outros que discutimos, é fácil ver que pode ser difícil formar e manter parcerias de sucesso.
A CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR LEVARÁ TEMPO
Os problemas fundamentais da fome, da pobreza e da desigualdade não podem ser resolvidos com abordagens de curto prazo. Progresso significativo para a transformação do mundo num lugar melhor para todos exige estratégias de longo prazo e arcabouços de gestão mensurados por quão bem compartilhamos o sucesso. Muitos dos nossos maiores problemas, aqueles que mais valem a pena resolver, podem não ser resolvidos em nossa vida — mas eles podem ser resolvidos.
Será necessário investimento em todo tipo de gente para estimular sua capacidade de ter sucesso. Serão necessários processos ponderados, contextualmente apropriados, que alinham os objetivos das organizações com necessidades locais e globais. Isso significará investir tempo e recursos em comunidades de maneiras que transformam beneficiários em acionistas de seus resultados. E significará aplicar a mensuração e os sistemas de desempenho corretos, a fim de investir em oportunidades que têm o maior valor intrínseco para a sociedade.
≈≈≈
Vivemos num mundo pós-recessivo, globalizado, colaborativo, jovem, hiperconectado. Hoje, mais do que em qualquer época anterior, temos as ferramentas, a ciência, as melhores práticas, a energia e a motivação para produzir mudanças positivas em escala global. Muitos de nós — de baby boomers a millennials — acreditamos que nossa nova realidade apresenta desafios, mas que temos o conhecimento, a tecnologia, os recursos e novas maneiras de nos organizamos para atender nossas necessidades com mais eficiência e equidade. Como autores, representamos um desses dois grupos muito grandes e influentes, e compartilhamos a forte convicção de que de fato podemos melhorar dramaticamente nosso mundo. Acreditamos que isso começa pela união e pela redefinição do sucesso. Nossa esperança é que as gerações futuras se concentrarão menos em definições tradicionais como riqueza, poder, ou fama, e estarão igualmente ou mais interessadas em causar um impacto positivo em suas comunidades — tanto local quanto globalmente.
Desenvolvemos estas observações ao longo de uma década de pesquisas, de estudos, de ensino e de trabalho com parcerias intersetoriais ao redor do mundo. Esperamos que este livro inspire o leitor a aprender como, pelo trabalho em conjunto, podemos fazer do mundo um lugar melhor.
Investindo em valor social: gerando valor social com investimentos