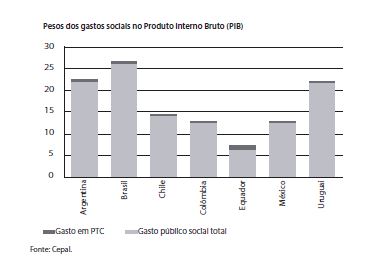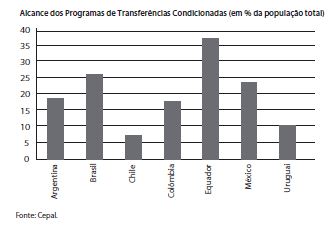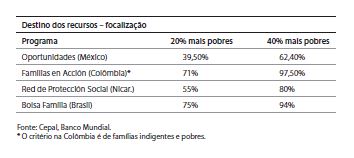Da Coleção FGV de Bolso, o Livro de Carlos Fico - O Golpe de 1964: momentos decisivos, apresenta as conjunturas nacional e internacional anteriores ao golpe, passo a passo, e faz um apanhado geral da ditadura que se seguiu ao golpe.
Traz, ainda, uma cronologia de eventos desde 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, até o AI2, em 1965.
Confira a apresentação desta obra que, em formato de bolso, apresenta uma síntese atualizada das mais recentes e confiáveis descobertas historiográficas deste período da nossa história.
O golpe de Estado de 1964 é o evento-chave da história do Brasil recente. Dificilmente se compreenderá o país de hoje sem que se perceba o verdadeiro alcance daquele momento decisivo. Ele inaugurou um regime militar que duraria 21 anos, mas, em 31 de março de 1964, quando o presidente João Goulart foi deposto, não se sabia disso: o golpe não pressupunha, necessariamente, a ditadura que se seguiu. Como o golpe se transformou em uma ditadura? Muitas pessoas que o apoiaram arrependeram-se com o passar do tempo. Aliás, não foram poucos os que apoiaram o golpe: a imprensa, a Igreja Católica, amplos setores da classe média urbana. Instituições que, anos depois, se tornariam fortes opositoras do regime – como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) ou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) –, tiveram atitudes no mínimo dúbias naquele momento. Portanto, é preciso ter em mente que o golpe não foi uma iniciativa de militares desarvorados que decidiram, do nada, investir contra o regime constitucional e o presidente legítimo do Brasil. Houve apoio da sociedade.
Creio que essas considerações preliminares são importantes. Muitas vezes, quando estudamos a ditadura militar – como eu tenho feito há tantos anos –, tendemos a ver o golpe de 1964 apenas como seu evento inaugural, mas ele foi mais do que isso. Representou a expressão mais contemporânea do persistente autoritarismo brasileiro, que já se manifestou em tantas outras ocasiões – como no outro regime autoritário republicano, o Estado Novo (1937-45). Portanto, talvez a pergunta essencial a se fazer seja: “por que tantos o apoiaram?”, em vez de apenas nos perguntarmos “como foi que se iniciou a ditadura militar?”.
Os fenômenos históricos são complexos. Não há fatos simples. O bom entendimento histórico não é confortável, apaziguador: ele não equaciona o passado, nem nos dá respostas definitivas, mas nos faz pensar. No caso do apoio de parte da sociedade ao golpe de 1964, por exemplo, há complicadores.
Se, por um lado, a imprensa, a Igreja Católica e parte da classe média – além dos empresários – apoiaram a derrubada de Goulart, existem, por outro lado, pesquisas confiáveis que mostram que a sociedade apoiava o presidente. Segundo o Ibope (que foi criado em 1942), às vésperas do golpe, Goulart tinha razoável apoio popular. O instituto doou acervo da época à Unicamp e o historiador Luiz Antonio Dias tem trabalhado o material. Segundo ele, as chances de vitória de Goulart seriam grandes no caso de o presidente disputar a reeleição em 1965. Contava com mais da metade das intenções de voto na maioria das capitais pesquisadas, perdendo para Juscelino Kubitschek apenas em Belo Horizonte e Fortaleza. 55% dos paulistanos entrevistados consideravam as medidas anunciadas no Comício da Central por Jango muito importantes para o povo. Em junho de 1963, Goulart era aprovado por 66% da população de São Paulo, mais do que o índice obtido pelo governador Adhemar de Barros (59%) e pelo prefeito Prestes Maia (38%). Pouco antes do golpe, a proposta de reforma agrária obteve apoio superior a 70% em algumas capitais e 72% da população apoiavam o governo de João Goulart. Isso comprova que a campanha de desestabilização de que foi vítima o presidente – que gerou propaganda massiva – não foi
eficaz e, muito menos, suficiente para a derrubada de Jango.
Os estudiosos do golpe de 1964 e do período histórico que se seguiu têm insistido em um ponto: não deveríamos usar as expressões “golpe militar” e “ditadura militar”, pois seriam mais corretas as designações golpe e ditadura “civil-militar”.
A preocupação é louvável porque tem em vista justamente o fato de que houve apoio civil ao golpe e ao regime. Eu sustentaria, no entanto, um ponto de vista um pouco diferente: não é o apoio político que determina a natureza dos eventos da história, mas a efetiva participação dos agentes históricos em sua configuração. Nesse sentido, é correto designarmos o golpe de Estado de 1964 como civil-militar: além do apoio de boa parte da sociedade, ele foi efetivamente dado também por civis. Governadores, parlamentares, lideranças civis brasileiras – e até o governo dos Estados Unidos da América – foram conspiradores e deflagradores efetivos, tendo papel ativo como estrategistas. Entretanto, o regime subsequente foi eminentemente militar e muitos civis proeminentes que deram o golpe foram logo afastados pelos militares justamente porque punham em risco o seu mando. É verdade que houve o apoio de parte da sociedade também à ditadura posterior ao golpe – como ocorreu durante o período de grande crescimento da economia conhecido como “milagre brasileiro” –, mas, como disse antes, não me parece que apenas o apoio político defina a natureza de um acontecimento, sendo possivelmente mais acertado considerar a atuação dos sujeitos históricos em sua efetivação. Por isso, admito como correta a expressão “golpe civil-militar”, mas o que veio depois foi uma ditadura indiscutivelmente militar.
Para os que o patrocinaram, o golpe foi a “revolução de 64”, a “revolução redentora”. Curiosamente, entretanto, existe uma designação que é aceita por militares e por ao menos um destacado intelectual comunista, Jacob Gorender, historiador autodidata falecido em 2013. Para muitos militares, Goulart planejaria um golpe, buscando manter-se no poder com o apoio das esquerdas que, afinal, o dominariam, tornando seu governo definitivamente comunista. Embora não existam provas que sustentem essa interpretação, os que pensam assim entendem que 1964 foi um “contragolpe preventivo” para evitar o “golpe” de Goulart. A tese é defendida tanto pelo coronel Jarbas Passarinho – ministro de Costa e Silva, da junta militar, de Médici e de Figueiredo, homem que aprovou o AI-5 com a famosa frase “às favas os escrúpulos de consciência” –, quanto pelo historiador Jacob Gorender – fundador do PCBR –, para o qual os golpistas tinham sobradas razões para agir “antes que o caldo entornasse”, já que, para Gorender, a dinâmica social anterior ao golpe era francamente revolucionária, “ponto mais alto das lutas dos trabalhadores brasileiros” no século XX. Em história, entretanto, não podemos analisar o que “poderia ter ocorrido” e não temos como sustentar teses sem o amparo de evidências empíricas.
Penso este livro como uma conversa com o leitor. Espero convencê-lo de meus pontos de vista não porque me ponha em uma posição de autoridade, como a do historiador que sabe o que efetivamente aconteceu. A história enxerga a verdade como um horizonte utópico. Não é uma miragem, mas só podemos vê-la – permitam-me a aparente contradição – fechando os olhos. A palavra horizonte não tem apenas o sentido de campo de visibilidade de uma pessoa, mas também significa a representação dos limites da consciência, da memória, e quando formamos imagens visuais mentais nós fechamos os olhos. Mesmo o estabelecimento das chamadas “verdades factuais” é difícil, porque o acesso ao passado se dá através de vestígios que, frequentemente, são controversos.
Dialogar com o leitor, expondo decididamente minhas dúvidas e incertezas, esse me parece ser o caminho certo para a busca, tantas vezes infrutífera, da verdade. Planejei este texto da maneira mais simples possível. Vou tratar de alguns antecedentes do golpe de 1964, da inesperada chegada de Goulart ao poder e da crise política que antecedeu sua derrubada. Em seguida, abordarei o golpe em si, os momentos dramáticos vividos pelo Brasil no final de março e início de abril daquele ano. Finalmente, veremos como o “golpe” virou “ditadura”, isto é, como o evento de março de 1964 tornou-se o inaugurador do mais longo regime autoritário do Brasil republicano.
As citações de discursos e documentos foram retiradas dos jornais da época. As avaliações de autoridades norte-americanas foram encontradas no National Archives and Records Administration dos EUA para a pesquisa que publiquei em O grande irmão.
Este é um livro pensado para o grande público, não tem natureza acadêmica. É um formato muito adequado para a manifestação mais “livre”, por assim dizer, de nossos pontos de vista, sem as amarras por vezes asfixiantes do formato universitário. Não vou recheá-lo com notas explicativas e bibliográficas, embora, para escrevê-lo, eu me ampare no conhecimento histórico acadêmico de alto nível que temos hoje no Brasil. É realmente notável como a historiografia brasileira evoluiu nos últimos 30 anos, especialmente no que diz respeito aos estudos sobre a história do Brasil republicano e, singularmente, sobre a história do regime militar. Isso certamente expressa o crescente interesse da sociedade brasileira sobre aquele período. Lembro-me de que, em 1994, quando do aniversário de 30 anos do golpe, poucos se interessaram pelos eventos que promovemos na universidade. Dez anos depois, em 2004 – marco dos 40 anos –, a imprensa acompanhou atentamente nossos seminários acadêmicos. Agora, nos 50 anos do golpe, o interesse é maior, inclusive em função dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Mas eu falava
da historiografia: uma pequena bibliografia sobre o tema pode ser consultada no final do volume. Naturalmente, vou me basear também em minhas próprias pesquisas – e os raros leitores que já me conhecem saberão identificar uma ou outra evolução, uma que outra mudança de ponto de vista, pois tenho me beneficiado muito não apenas das pesquisas feitas por diversos colegas, mas também daquelas conduzidas pelos bacharelandos, mestrandos e doutorandos que tenho orientado – meus queridos alunos aos quais dedico este livro.