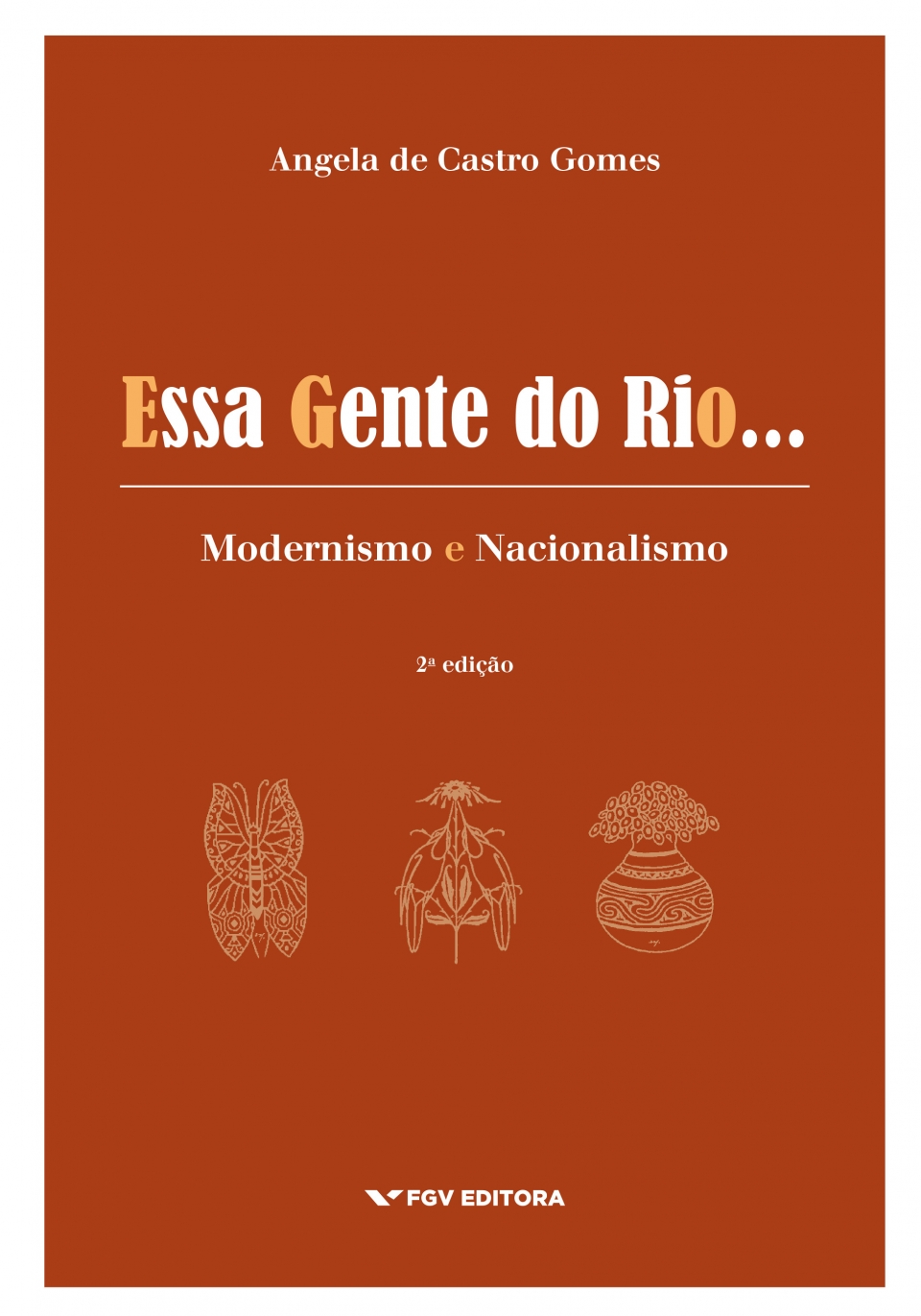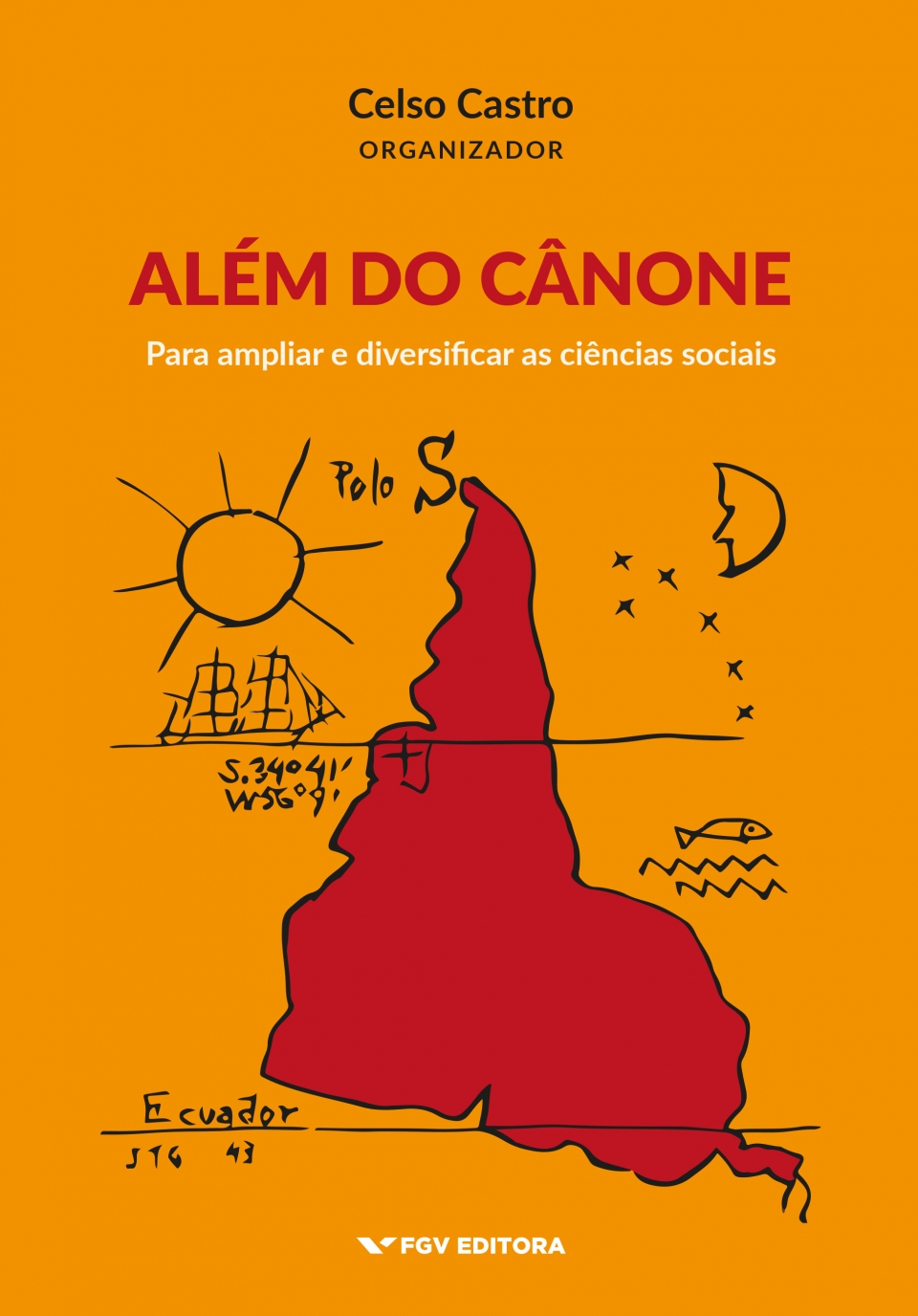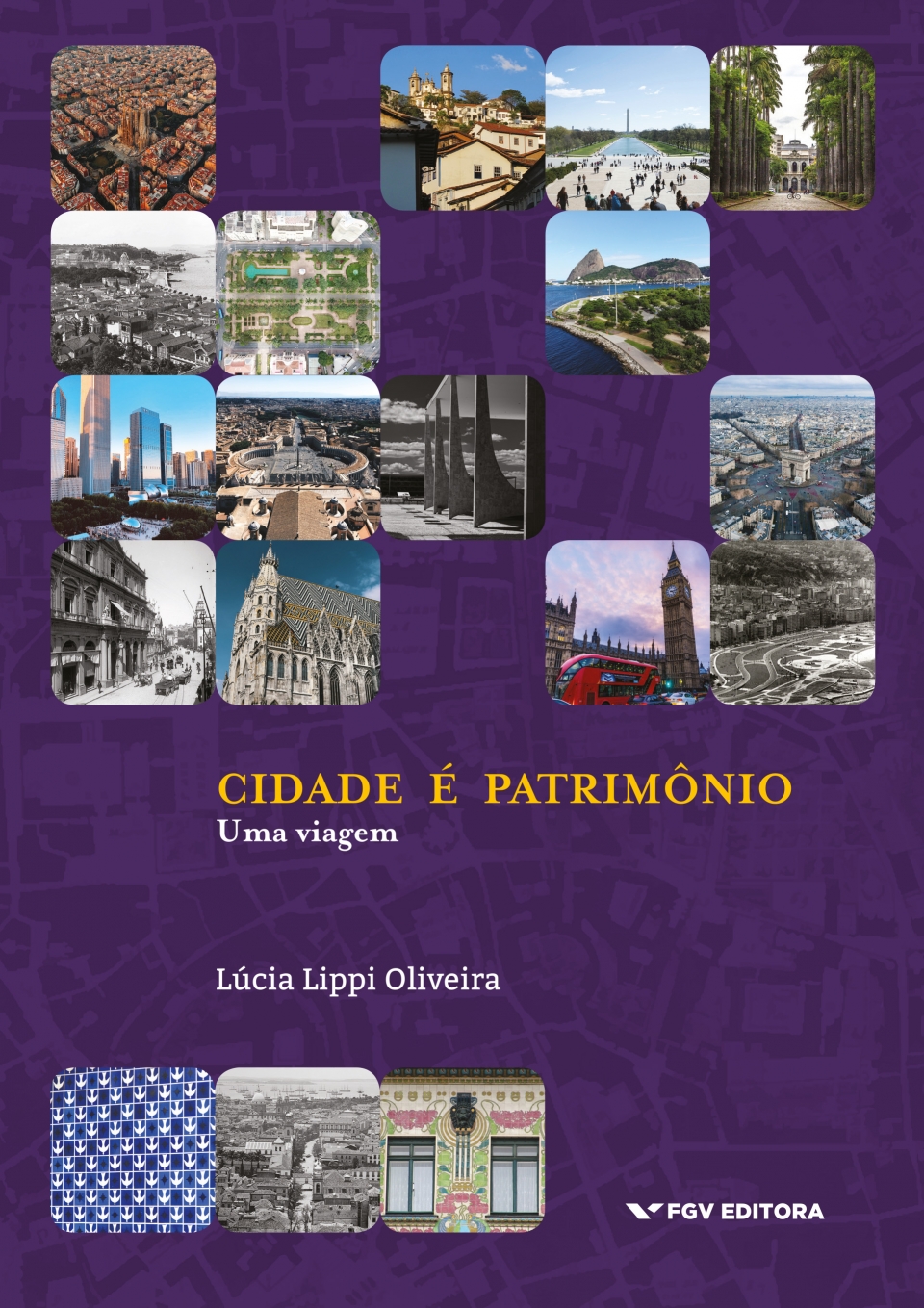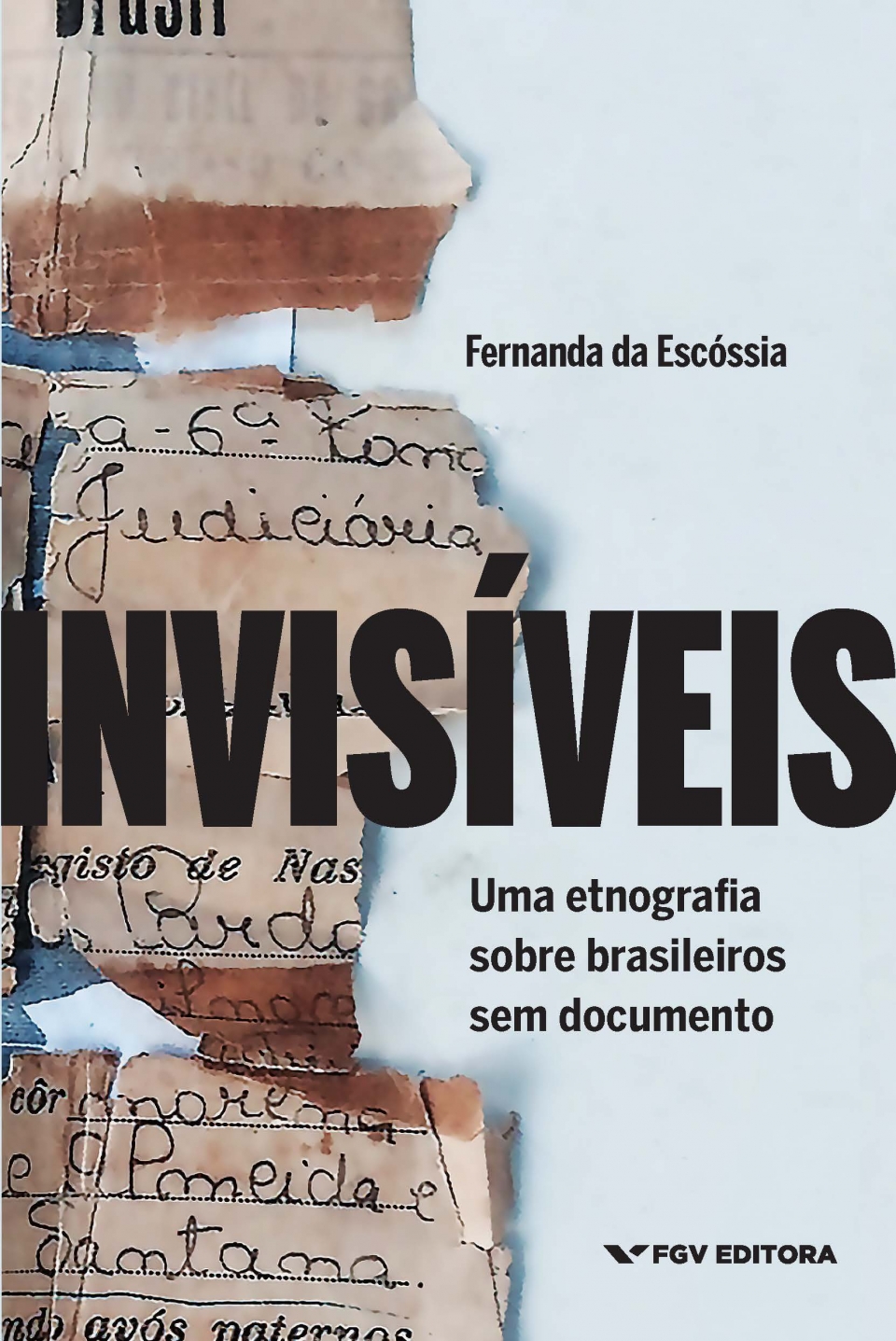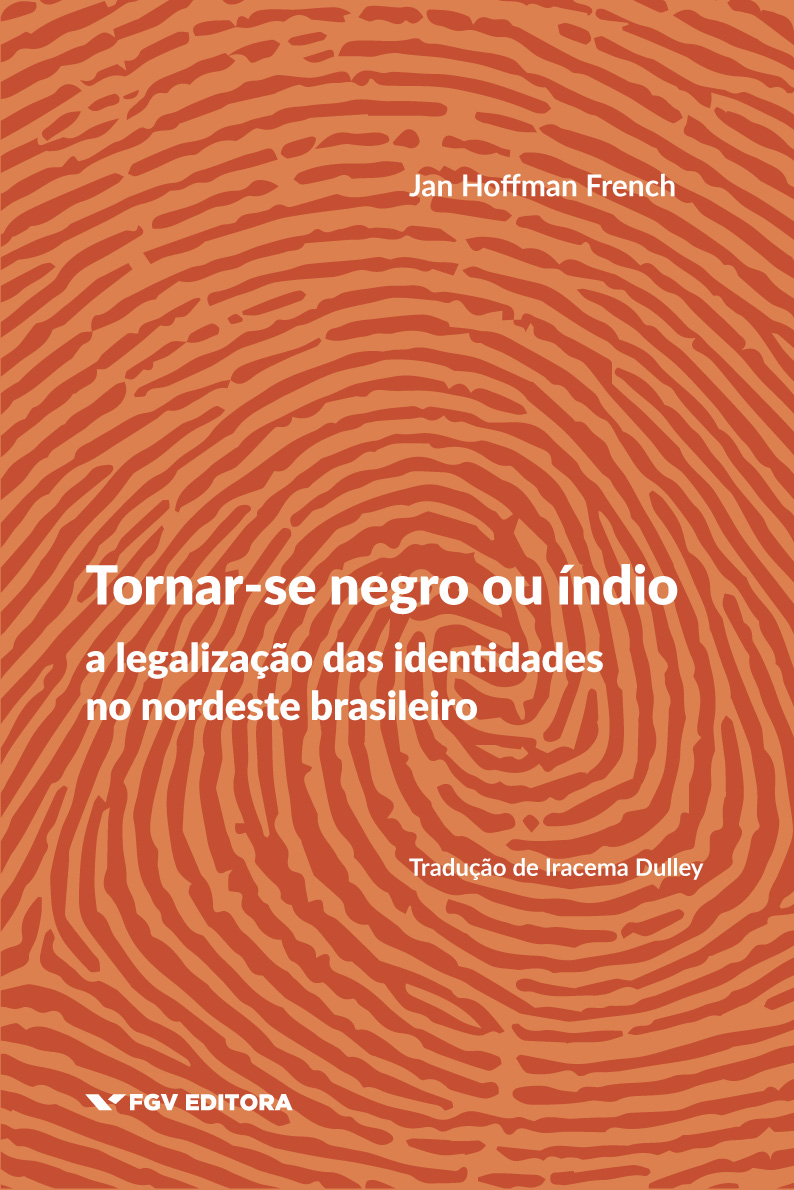Dentro das celebrações do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, lançamos a segunda edição do livro Essa gente do Rio...: modernismo e nacionalismo, da professora Angela de Castro Gomes.
Confira um trecho da introdução da obra a seguir:
Este trabalho insere-se em um conjunto muito amplo e diversificado de estudos voltados para o acompanhamento da atuação dos intelectuais brasileiros nas primeiras décadas do século, destacando sua relevância na proposição e implementação de projetos de “Brasil moderno”. O tema de fundo em todos eles — a questão dos marcos culturais da identidade nacional — vem sendo tratado tanto no âmbito da história e das ciências sociais, quanto no da crítica literária e da medicina social.1 A amplitude de tal composição é reveladora não só da importância que o tema da cultura ganhou nas últimas duas décadas, especialmente para a historiografia, como do reconhecimento da necessidade de se trabalhar com novos atores, como os intelectuais, para se compreender os rumos dos complexos processos de transformação social.
No caso deste estudo, procurou-se privilegiar os intelectuais cariocas, entendidos como os que viviam e teciam suas redes de sociabilidade na cidade do Rio de Janeiro, permanecendo-se fiel ao período das primeiras décadas do século, mas nelas destacando os anos 1930, menos explorados que os “frenéticos” anos 1910 e 1920.
A contribuição que se busca trazer, portanto, diz respeito menos ao espaço e aos atores sob análise, e mais à abordagem escolhida. Ela procura captar a ambiência social, política e cultural da cidade, para então mapear a dinâmica de articulação de seus vários grupos de intelectuais, reunidos em lugares de sociabilidade por eles legitimados, para o debate e a propagação de ideias, indissociáveis de formas de intervenção na sociedade. Ou seja, a pesquisa está situada na interseção da história política e cultural, que é sempre social, assumindo uma vertente teórico-metodológica que, na França, vem recebendo a designação de “história de intelectuais”.
Tal approach procura uma estratégia de análise distinta de outras, também integrantes do campo da história cultural, como a “história das ideias” e o estudo das trajetórias de conceitos, bem como a “história da leitura” ou a “análise de discursos”, sejam estes tomados como recursos de poder, sejam tratados no âmbito da linguística.
Como se vê, o campo é rico e multifacetado, permitindo especificidades e interseções. A opção pela “história de intelectuais” não buscou, portanto, um aprisionamento conceitual, fundando-se na crença de ser uma possibilidade útil para o exercício de um tipo de análise histórico-sociológica. Tal análise, sem abandonar o interesse pelo conteúdo e forma da produção dos intelectuais, concentra sua atenção na lógica de constituição de seus grupos, postulando a interdependência entre a formação de redes organizacionais e os tipos de sensibilidade aí desenvolvidos, o que necessariamente iluminaria o desenho e as características de quaisquer projetos culturais.
Esta abordagem seria segura e profícua para o historiador, por permitir uma aproximação das obras dos intelectuais, através do privilegiamento das condições sociais em que foram produzidas, enquanto constitutivas de um certo campo político-cultural. Sendo mais precisa, não se trata fundamentalmente de uma contextualização histórica, muito frequente e proveitosa, mas do reconhecimento da existência de um campo intelectual com vinculações amplas, porém com uma autonomia relativa que precisa ser reconhecida e conhecida. Isto poderia ser alcançado com uma investigação que acompanhasse as trajetórias de indivíduos e grupos; que caracterizasse seus esforços de reunião e de demarcação de identidades em determinados momentos; e que associasse tais eventos às características-projetos de sua produção intelectual.
Por essa razão, a opção pela abordagem acaba por enfatizar — como objeto e fonte, simultaneamente —, o trabalho com periódicos, correspondências, casas editoras, cafés, livrarias e associações culturais, enfim, com diversificados “lugares de sociabilidade” onde os intelectuais se organizariam, mais ou menos formalmente, para construir e divulgar suas propostas. Pelo mesmo fato, tais pesquisas enfrentam sempre questões polêmicas, pelas quais os intelectuais, ao mesmo tempo, inserem-se no campo cultural mais abrangente do qual são contemporâneos, e nele procuram demarcar fronteiras capazes de lhes assegurar identidades individuais e coletivas. De maneira mais operacional, a abordagem procura mapear as ideias, valores e comportamentos que alicerçam a formação de grupos intelectuais, objetivando compreender as genealogias que inventam, os formatos organizacionais que elegem e as características estéticas e políticas de seus projetos.
Como neste estudo se escolheu trabalhar com os intelectuais cariocas ao longo das primeiras décadas do século XX, o ponto de partida necessário foi a problematização dos conceitos de modernidade e modernismo, conforme o que vem sendo feito por estudos recentes nas ciências sociais e na literatura. sensual, eles tendem a apontar para as conjunções e disjunções existentes entre os dois termos em momentos e espaços diferenciados e, como desdobramento, para a multiplicidade de modernidades e modernismos que podem ser pensados. Isto é, para a possibilidade de uma variedade de projetos de modernização que se expressariam por numerosas, mas não arbitrárias, estéticas modernistas.
Dessa forma, as assinaladas relações entre intelectuais, nacionalismo e modernismo ganham renovado interesse, por abandonarem completamente a premissa de um certo modelo de nação moderna que pudesse ser utilizado como parâmetro para todo o campo político-intelectual do país. Como decorrência, tornam- se objeto de reflexões questões como a da própria centralidade que os modernistas paulistas atribuíram a si mesmos e a da duração da memória que construíram sobre seu papel de vanguarda intelectual hegemônica.
Se esta experiência foi, sem qualquer sombra de dúvida, fundamental para a construção de uma nova concepção de arte e cultura no país, seu impacto vem sendo reinterpretado, mais como um efeito das iniciativas agressivas e contestatórias de que lançaram mão naquele
momento do que do próprio caráter formal de inovação que seus trabalhos apresentavam. O que se assinala, portanto, é que a “estratégia do escândalo”, a que recorreram os “paulistas” da Semana, foi recebida pelo público como um sinal de mudança radical, afirmando-se como um paradigma de modernismo e modernidade nacionais. Tal paradigma seria retomado e consolidado, cuidadosamente, pelo trabalho de muitos intelectuais, entre os quais os próprios modernistas paulistas e vários críticos literários atuantes nas décadas de 1950 e 1960, que estabeleceram uma história-memória do movimento modernista para todo o país.
Em vinculação com esse tipo análise, cresceu o interesse pela pesquisa de “outros” projetos de modernidade, assim como pela problematização de categorias como “pré” e “pós”-modernismo. No caso dos estudos sobre o “pré-modernismo”, tem-se operado um recuo à produção cultural da virada do século XX, destacando-se a construção de circuitos alternativos para o debate e circulação de ideias, em especial no Rio de Janeiro. Tais experimentos, marcados pela recusa ao já estabelecido em termos artísticos, bem como pela aceitação de novas práticas comunicativas e uso de tecnologias, impactavam tanto as formas quanto os conteúdos do que se desejava transmitir a um público urbano, crescente e diversificado.
Neste sentido preciso é que se pontua que a modernidade cultural brasileira não poderia ser pensada como restrita a uma súbita e original descoberta, devendo ser analisada de forma processual e em íntima conexão com as ambiências urbanas e regionais que demarcavam as trajetórias individuais e coletivas dos intelectuais do país.
O intelectual e, no caso, o intelectual-artista, que experimentava uma especialização e profissionalização acentuadas, precisaria ser pensado sempre como um doublé de teórico da cultura e de produtor de arte, inaugurando formas de expressão e refletindo sobre as funções e desdobramentos sociais que tais formas guardariam. O esforço de inovação e a consciência explicitada desse esforço eram, inclusive, muito grandes nesses inícios do século XX. Suas relações com o aparecimento de um público e de meios de comunicação “de massa” são evidentes, donde a importância de ações que estreitassem esses vínculos, quer através do uso de “outras” linguagens (como a caricatura, a propaganda, o rádio e até o cinema), quer através do “ensino” da arte, que não deveria ser monopólio de escolas, academias ou júris de salões. Esse novo público abria perspectivas para uma gradual libertação de estilos e práticas, como a do mecenato, apontando para a criação de um mercado maior e mais aberto, com as presenças de editores e marchands, bem como para uma dinâmica entre mecenato e mercado de arte, até então não experimentada.
Diante de tantas transformações, não é casual a existência de polêmicas que ora aproximassem ora distanciassem os intelectuais, situando-os em “grupos” que se reorganizavam continuamente com o passar dos anos e dos eventos estéticos e políticos. Unindo ou opondo lideranças e/ou instituições, tais disputas estão longe de ser indicadores de meras vaidades individuais ou coletivas, ou de competições “regionais”. Elas exprimem, em sua duração e sofisticação, a intensidade e a dificuldade das questões então enfrentadas pelo país, em busca de uma modernidade sentida como necessária e iminente no período do entreguerras.
Seria impossível, nesses parâmetros, imaginar um afastamento da intelectualidade carioca de tais enfrentamentos. O Rio encontrava-se no “centro” da própria polêmica, não só por ser o polo de atração e civilização de toda a nação, como, por isso mesmo, por encarnar os estigmas do “passado e atraso” a serem por todos vencidos.
Essa gente do Rio...: modernismo e nacionalismo
Autora: Angela Maria de Castro Gomes