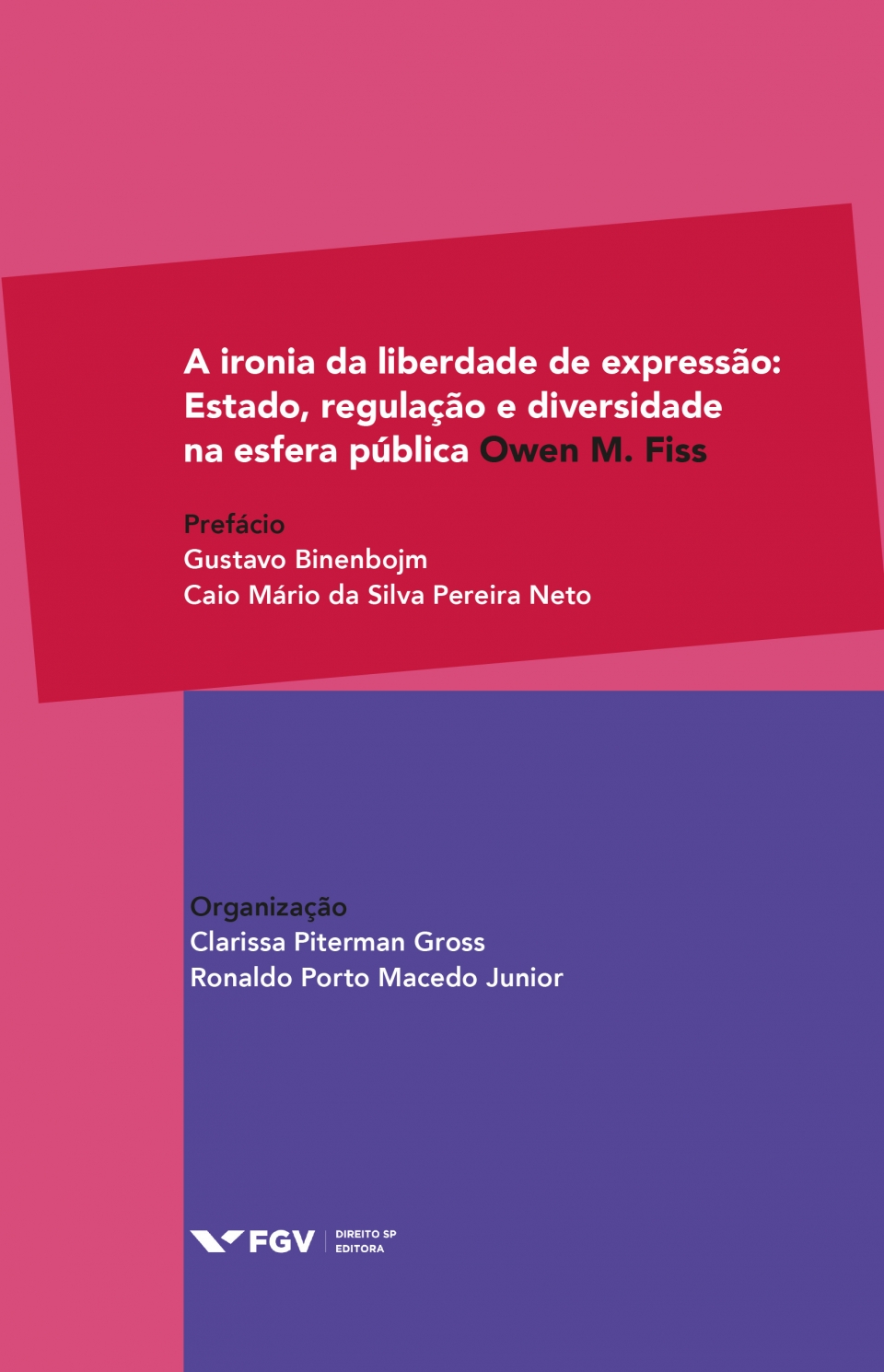A relação entre liberdade de expressão e democracia é inquestionável. Os termos dessa relação são controversos. Neste livro, Owen Fiss se posiciona sobre uma pergunta fundamental: afinal, a que serve a liberdade de expressão em uma democracia? A clareza de seus argumentos ensina que problemas contemporâneos urgentes de liberdade de expressão podem e devem ser tratados com profundidade e coerência.
Esta obra, organizada por Clarissa Piterman Gross e Ronaldo Porto Macedo Junior, com prefácio de Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto, apresenta, de forma clara e acessível para o grande público e em momento mais que oportuno, um debate acerca dos propósitos da liberdade de expressão relevante para diversas questões contemporâneas relacionadas à qualidade da democracia e trata de um tema fundamental para a democracia contemporânea: o papel do Estado na garantia das liberdades de expressão e de imprensa.
Confira a introdução da obra a seguir:
A liberdade de expressão está entre nossos mais estimados direitos, porém ela tem sido o foco de constantes polêmicas. Durante a maior parte deste século, a liberdade de expressão esteve sujeita a inúmeras batalhas judiciais e dividiu profundamente a Suprema Corte. Com efeito, o caso Pentagon Papers, do início dos anos 1970, foi um dos episódios mais contenciosos da história da Suprema Corte, envolvendo uma disputa entre o Attorney General dos Estados Unidos e dois jornais altamente respeitados, o New York Times e o Washington Post, e deixando os juízes em conflito uns com os outros. A liberdade de expressão também foi intensamente debatida em círculos políticos, nos campi da nação e mesmo em torno de mesas de jantar — em contextos que variam desde o julgamento de Sacco e Vanzetti em 1921 à cruzada anticomunista dos anos 1950.
Para alguns observadores, as controvérsias atuais sobre a liberdade de expressão podem não parecer especialmente relevantes; elas podem até mesmo ser um pouco cansativas. As questões podem ter mudado — ao invés da subversão e da alegada ameaça comunista, nós estamos agora preocupados com tópicos como discurso de ódio (hate speech)* - * a expressão “hate speech” no original será sempre traduzida como “discurso de ódio”. (N. do R.) - e financiamento de campanha — mas as divisões e paixões que elas suscitam são todas bastante familiares. Eu acredito, contudo, que tal perspectiva sobre as controvérsias atuais em torno da liberdade de expressão — vendo-as como nada além de uma repetição do passado — é equivocada. Alguma coisa muito mais profunda e muito mais significativa está acontecendo. Nós estamos sendo convidados, ou mesmo intimados, a reexaminar a natureza do Estado moderno e verificar se ele possui algum papel na preservação das nossas liberdades mais básicas.
Os debates do passado foram baseados na visão de que o Estado era um inimigo natural da liberdade. Era o Estado que estava procurando silenciar o orador (speaker) individual e era o Estado que deveria ser controlado. Há muita sabedoria nesta visão, mas ela representa apenas meia verdade. Certamente, o Estado pode ser um opressor, mas ele pode ser também uma fonte de liberdade. Por meio da consideração de uma ampla variedade de controvérsias sobre liberdade de expressão nas manchetes atuais — discurso de ódio, pornografia, financiamento de campanha, financiamento público das artes e o esforço para ganhar acesso aos meios de comunicação de massa —, eu procurarei explicar por que a tradicional presunção contra o Estado é enganosa e como o Estado poderia se tornar o amigo, ao invés do inimigo, da liberdade.
Essa visão — inquietante para alguns — está calcada em várias premissas. Uma é o impacto que a concentração de poder privado tem sobre a nossa liberdade; algumas vezes o Estado é necessário apenas para contrapor essas forças. Fundamentalmente, essa visão é predicada em uma teoria da Primeira Emenda e de sua garantia de liberdade de expressão que enfatiza valores sociais ao invés de valores individualistas. A liberdade que o Estado pode ser chamado a promover é uma liberdade pública. Apesar de alguns verem a Primeira Emenda como uma proteção ao interesse individual de autoexpressão, uma teoria muito mais plausível, formulada inicialmente por Alexander Meiklejohn1 e agora abraçada por todo o espectro político, de Robert Bork a Willam Brennan, vê a Primeira Emenda como uma proteção da soberania popular. A intenção da lei é ampliar os termos da discussão pública de forma a possibilitar que cidadãos comuns tomem conhecimento das questões à sua frente e dos argumentos de todos os lados, e, então, persigam seus objetivos com liberdade e plenitude. Uma distinção, portanto, é traçada entre uma teoria libertária e uma teoria democrática da expressão, sendo esta última a que impulsiona meu questionamento sobre os caminhos por meio dos quais o Estado pode potencializar nossa liberdade.
A visão libertária — de que a Primeira Emenda é uma proteção da autoexpressão — faz um apelo para o éthos individualista que tanto domina nossa cultura popular e nossa cultura política. A liberdade de expressão é vista como análoga à liberdade de religião, que também é protegida pela Primeira Emenda. Todavia, essa teoria não consegue explicar por que os interesses daqueles que produzem o discurso deveriam ter prioridade sobre os interesses dos indivíduos objeto do discurso, ou dos indivíduos que devem escutar o discurso, quando esses dois conjuntos de interesses conflitam. Ela também não consegue explicar por que o direito de liberdade de expressão deveria ser estendido para várias instituições e organizações — CBS, NAACP, ACLU, First National Bank of Boston, Pacific Gas & Electric, Turner Broadcast System, VFW — que são rotineiramente protegidas pela Primeira Emenda, apesar do fato de essas entidades não representarem o interesse individual de autoexpressão. O discurso é tão valorizado pela Constituição, eu sustento, não porque ele é uma forma de autoexpressão ou autorrealização, mas porque ele é essencial para a autodeterminação coletiva. A democracia permite que as pessoas escolham a forma de vida que desejam viver e pressupõe que essa escolha seja feita em um contexto no qual o debate público seja, para usar a agora famosa fórmula do Juiz Brennan, “desinibido, robusto e amplamente aberto”. No original, uninhibited, robust, and wide open. (N. do T.).
Em algumas instâncias, instrumentos do Estado tentarão inibir o debate livre e aberto, e a Primeira Emenda é o mecanismo testadoe aprovado que impede e previne tais abusos do poder estatal. Em outras instâncias, contudo, o Estado pode ter que agir para promover a robustez do debate público em circunstâncias nas quais poderes fora do Estado estão inibindo o discurso. Ele pode ter que alocar recursos públicos — distribuir megafones — para aqueles cujas vozes não seriam escutadas na praça pública de outra maneira. Ele pode até mesmo ter que silenciar as vozes de alguns para ouvir as vozes dos outros. Algumas vezes, simplesmente não há outra forma. O ônus deste livro é explorar quando tais exercícios do poder estatal para alocar e regular são necessários, e como eles podem ser reconciliados com, ou mesmo sustentados por, a Primeira Emenda.
A ironia da liberdade de expressão: Estado, regulação e diversidade na esfera pública
Autor: Owen M. Fiss