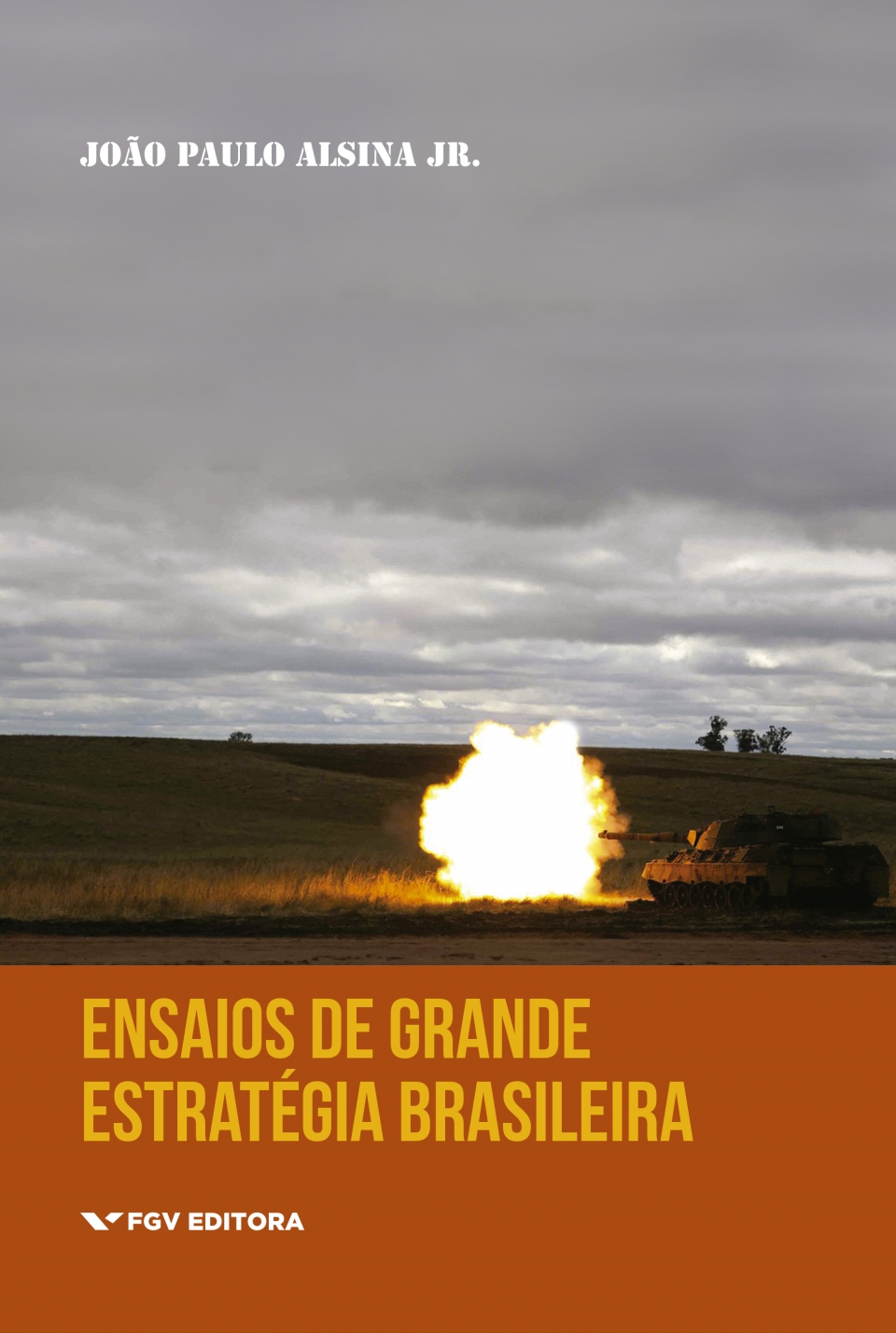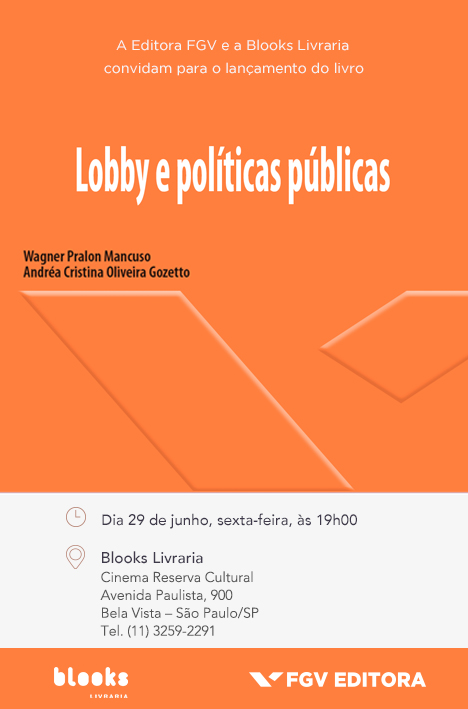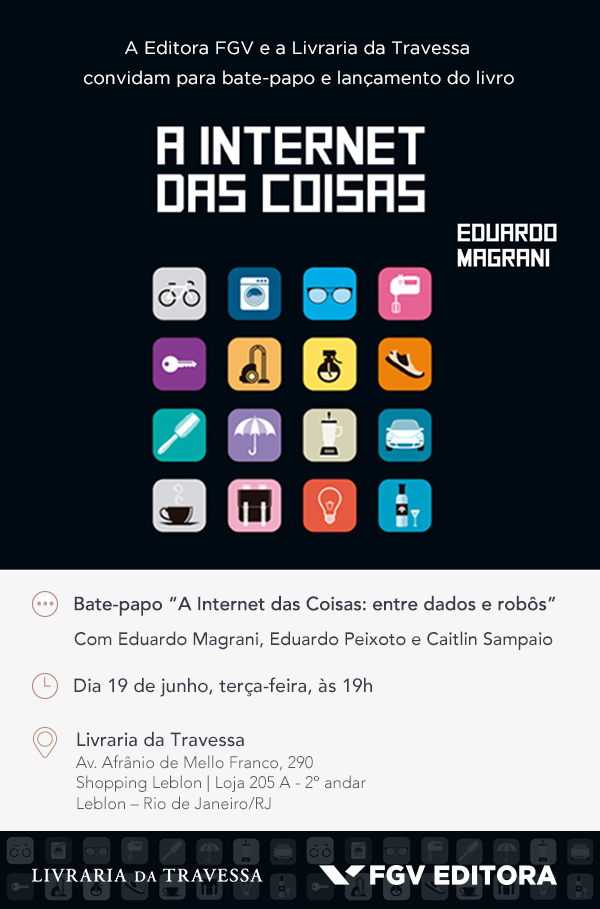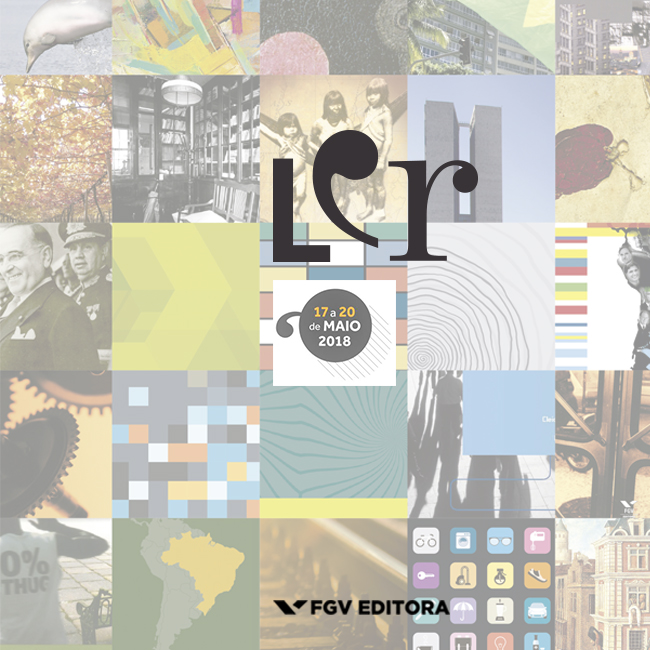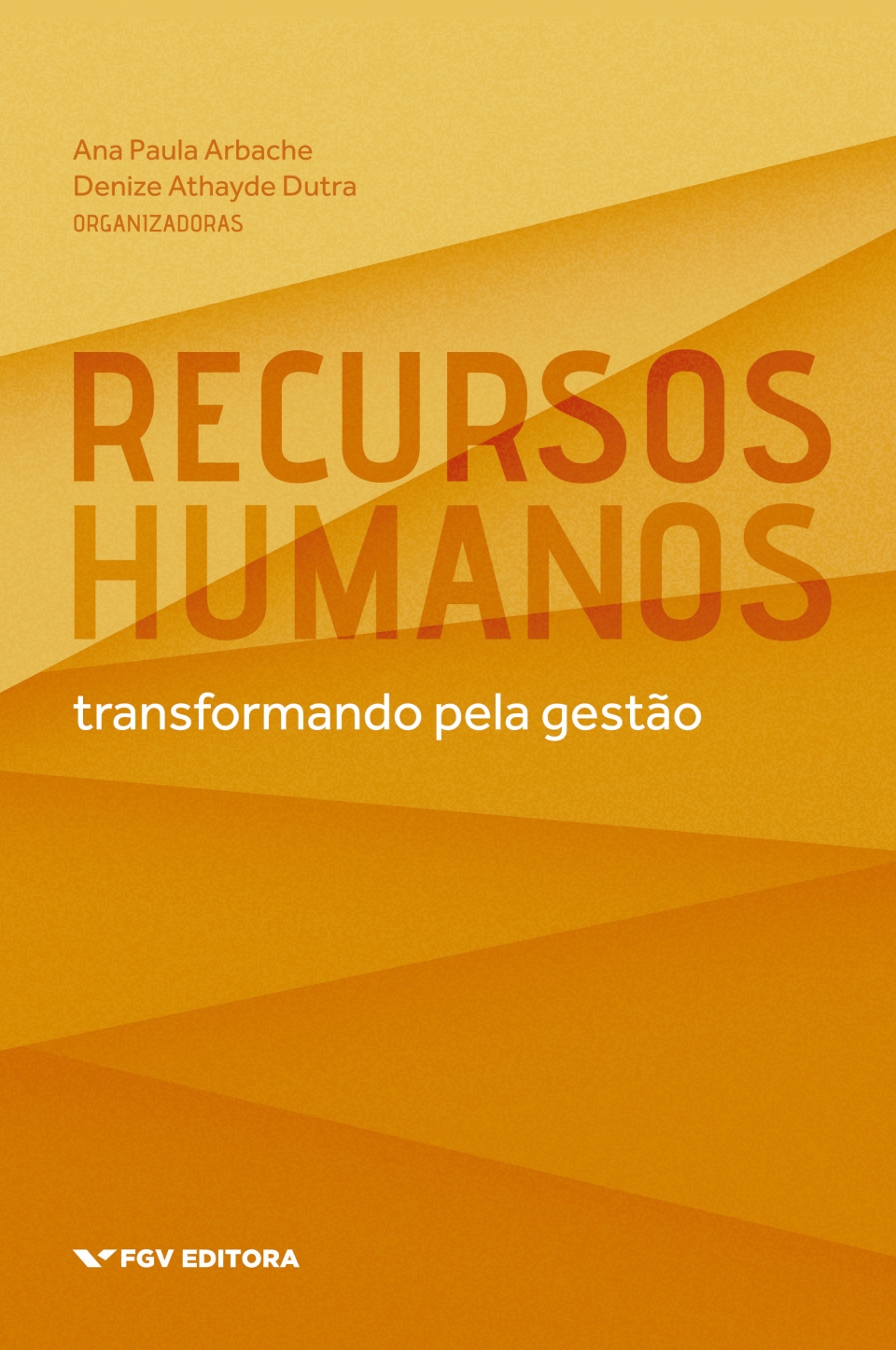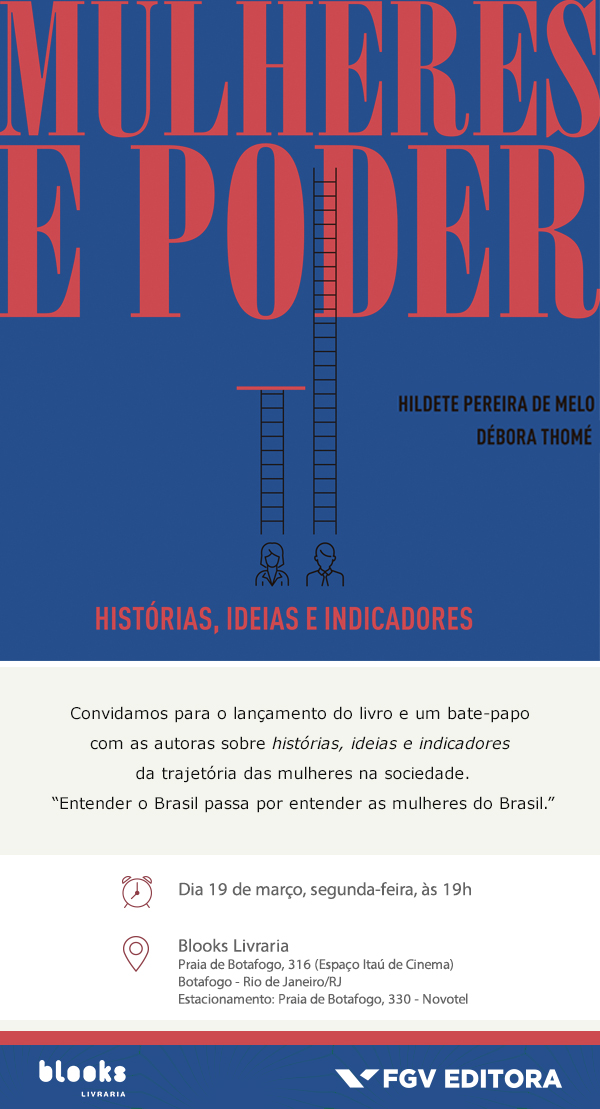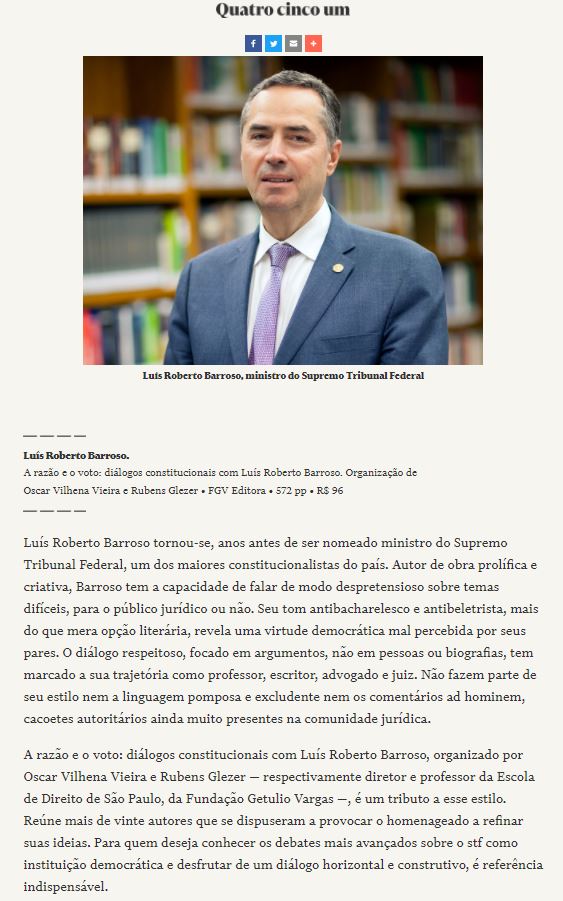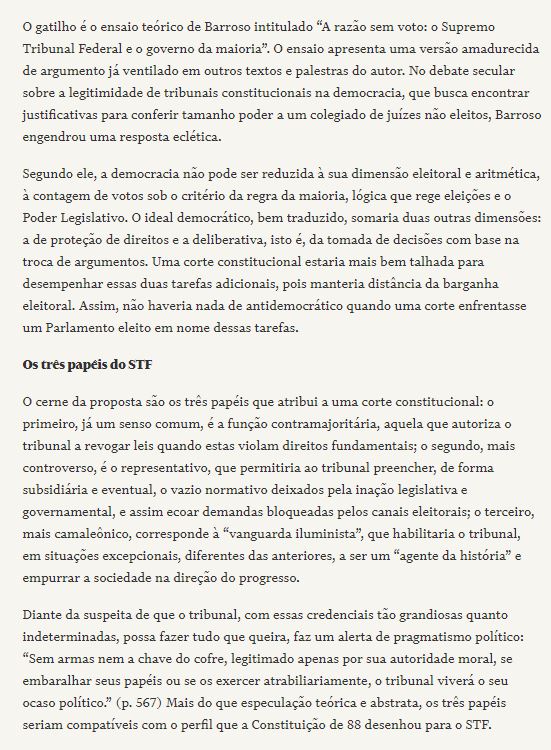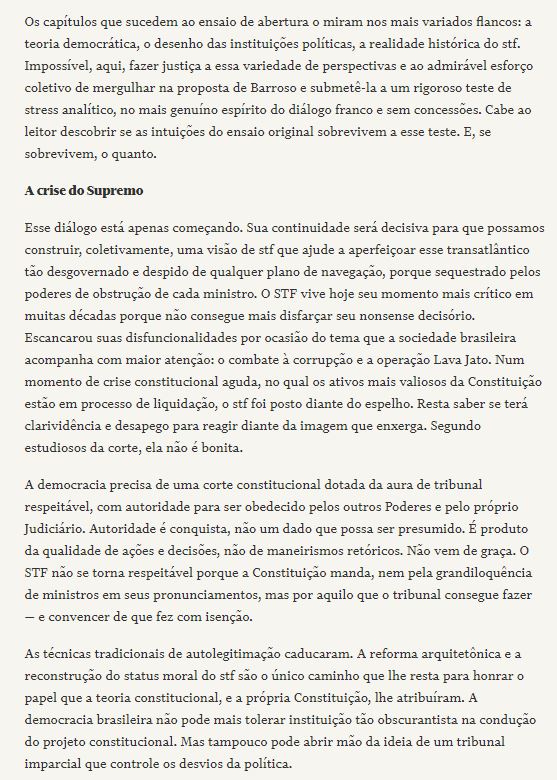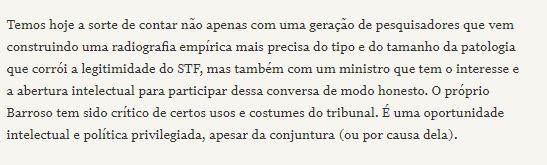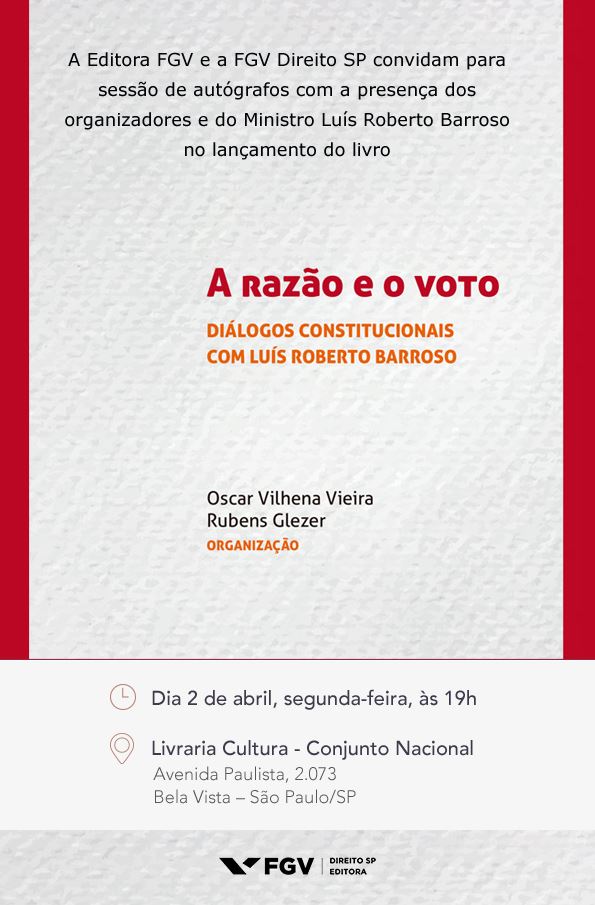Neste 23 de abril celebramos o que nos move.
Somos livros!
E você? É livro também?
Compartilhamos esse estado de "ser livro" com alguns autores e autoras nossos e recebemos suas respostas.
Confira o que eles disseram sobre suas relações com os livros.
Deixe aqui também seus comentários...
Qual é sua leitura atual? Consegue mencionar dois livros importantes? Qual é a importância da leitura na sua vida?
Marieta de Moraes Ferreira | Autora: A história como ofício: a constituição de um campo disciplinar; Rio de Janeiro: uma cidade na história; João Goulart - entre a memória e a história; Os desafios do ensino médio; entre outros.
1| Qual é sua leitura atual?
Estou lendo um livro que tenho muito orgulho de ter publicado pela Editora FGV, que é o Mulheres e poder: histórias, ideias e indicadores.
2 | Consegue mencionar dois livros importantes?
Coronelismo, enxada e voto, de Victor Nunes Leal, muito importante para a minha profissão e um clássico da literatura que já reli algumas vezes, Os maias, de Eça de Queiros.
3 | A importância da leitura na sua vida.
A importância é absoluta. Sendo professora e editora, a leitura frequente se faz necessária, tanto para me atualizar sobre os novos temas tratados, quanto para rever assuntos importantes. Mas esse hábito não se restringe à profissão. Trata-se de uma necessidade pessoal também.
Débora Thomé | Autora: Mulheres e poder: histórias, ideias e indicadores; O Bolsa Família e a social-democracia.
1| Qual é sua leitura atual?
Bem, estive lendo na semana passada Um Teto Todo Seu, um livro marco do feminismo, uma palestra da Virginia Wolf sobre como é importante a mulher ter uma renda, um teto todo seu, para ter liberdade de escrever sobre o que quiser.
2 | Consegue mencionar dois livros importantes?
Sou uma leitora voraz desde os 7 anos de idade e consigo lembrar de livros que me marcaram ao longo de todo este processo, mas queria destacar os dois primeiros livros adultos que li: De amor e de Sombras, de Isabel Allende e 12 contos peregrinos, do Garcia Marquez.
3 | A importância da leitura na sua vida.
Sou uma adoradora da literatura latino-americana e acho curioso que por acaso tenha começado por ela.
Além deles, citaria Italo Calvino, Vargas Llosa, Hector Abbad, Juan Pablo Villalobos, Chimamanda, Machado. Além de Tony Judt, Norberto Bobbio, Hannah Arendt. Minha lista é infinita.
Luis Carlos Villalta | Autor: O Brasil e a crise do Antigo Regime português (1788-1822)
1| Qual é sua leitura atual?
Acabei de ler o livro do Robert Rosenstone, A história nos filmes, os filmes na história. Tradução de Marcello Lino. Eu tinha lido textos deles em inglês, publicados em revista, mas não a edição brasileira do seu livro.
2 | Consegue mencionar dois livros importantes?
Dois livros muito importantes na minha vida: Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, que eu reputo como o maior livro da nossa historiografia, e O Diabo e a Terra de Santa Cruz, de Laura de Mello e Souza, minha ex-orientadora de doutorado, outro clássico.
3 | A importância da leitura na sua vida.
Meu interesse pela leitura foi despertado em casa. Minha mãe sempre foi leitora de romances. Meu avô materno, um velho comunista admirador de Luiz Carlos Prestes, posição política de que desconfiava quando criança e de só foi ter certeza recentemente, funcionava como incentivador da leitura, sempre me dando revistas para ler. Como era comum na época, meu primeiro romance foi Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcellos, escritor menor. Mas logo em seguida, devorei vários romances de José Lins do Rego, a começar por Menino de Engenho. Jamais desconfiaria que meu amor pelo Nordeste começaria aí.
Mariana Bruce | Autora: Estado e democracia nos tempos de Hugo Chávez (1998-2013)
1| Qual é sua leitura atual?
A potência plebeia, de Álvaro Garcia Libera
Se me deixam falar (história de Domitila Barrios de Chungara)
E Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus
2 | Consegue mencionar dois livros importantes?
Cem anos de solidão, Gabo
1984, George Orwell
A importância da leitura na sua vida
3 | A importância da leitura na sua vida.
É tudo para mim, fonte de inspiração e conhecimento.
Alba Zaluar | Autora: Cidade de Deus: a história de Ailton Batata, o sobrevivente; Um século de favela; Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas; entre outros.
1| Qual é sua leitura atual?
Estou lendo um autor que gosto muito, já falecido: Tony Judt no seu livro com os artigos que escreveu até 2010. Além dos artigos para o curso sobre guerra e paz que dou no Iesp.
2 | Consegue mencionar dois livros importantes?
Livros, todos eles em defesa da paz:
Os Buddenbrooks, de Thomas Mann
Guerra e Paz de Leon Tolstoi
Os Alemães de Norbert Elias
3 | A importância da leitura na sua vida.
Sem a leitura, eu não seria eu. Não teria me desenvolvido como pessoa humana, não teria me entendido e respeitado o outro, não teria vivido as alegrias e tristezas que vivi e que fazem parte da vida, só que lidando melhor com elas.
Wanderlei Guilherme dos Santos | Autor: A democracia impedida: o Brasil século XXI; Governabilidade e democracia natural
1| Qual é sua leitura atual?
Estou lendo sobre revolução tecnológica atual e seus efeitos sobre a democracia.
2 | Consegue mencionar dois livros importantes?
A Grande Transformação, de Karl Polanyi, e outros dois mil que não consigo lembrar os títulos, mas sem os quais não teria escrito uma página sequer ao longo de minha vida profissional.
3 | A importância da leitura na sua vida.
Uma questão de estilo de vida.
Eduardo Garcia | Autor: Comunicação em prosa moderna
1| Qual é sua leitura atual?
Como minha leitura atual cito o livro Machado, de Silviano Santiago, que acabo de ler com muito prazer e proveito.
2 | Consegue mencionar dois livros importantes?
Difícil é dizer quais os dois livros mais importante para mim, mas, se me restringir à literatura brasileira apenas para facilitar a seleção, cito a obra genial de Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas, e a grandiosidade de Vidas secas, de Graciliano Ramos.
3 | A importância da leitura na sua vida.
Quanto à importância da leitura para mim, só posso dizer que foi e tem sido por meio dela que logro conquistar alguma possível lucidez com relação ao que constitui a existência humana, aquele “claro enigma” a que se refere Carlos Drummond de Andrade.
Eduardo Magrani | Autor: A internet das coisas
1| Qual é sua leitura atual?
Enclausurado de autoria de Ian McEwan
2 | Consegue mencionar dois livros importantes?
Matadouro 5 do Kurt Vonnegut e Ensaio sobre a Cegueira do Saramago.
3 | A importância da leitura na sua vida.
A leitura abre as portas da nossa percepção e coloca em palavras as asas da nossa imaginação.