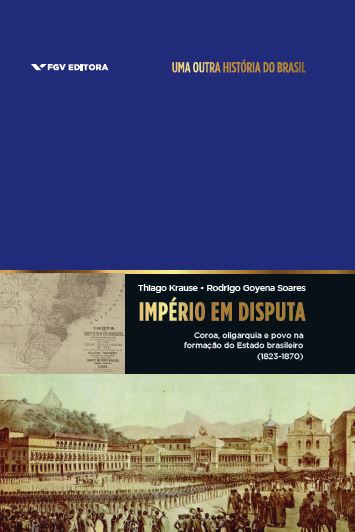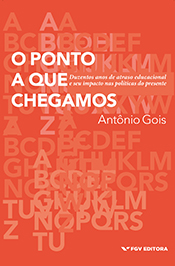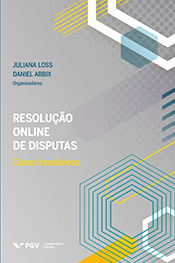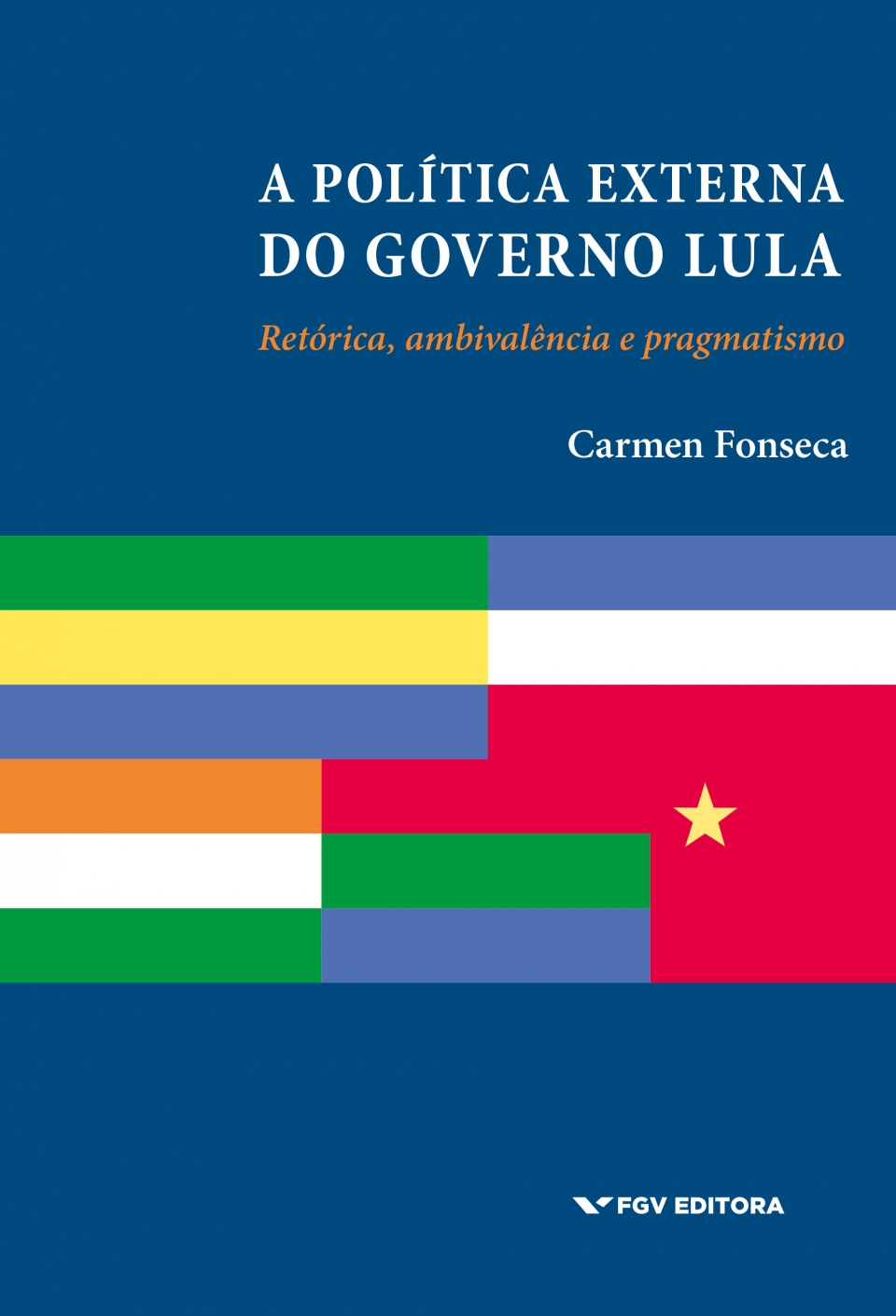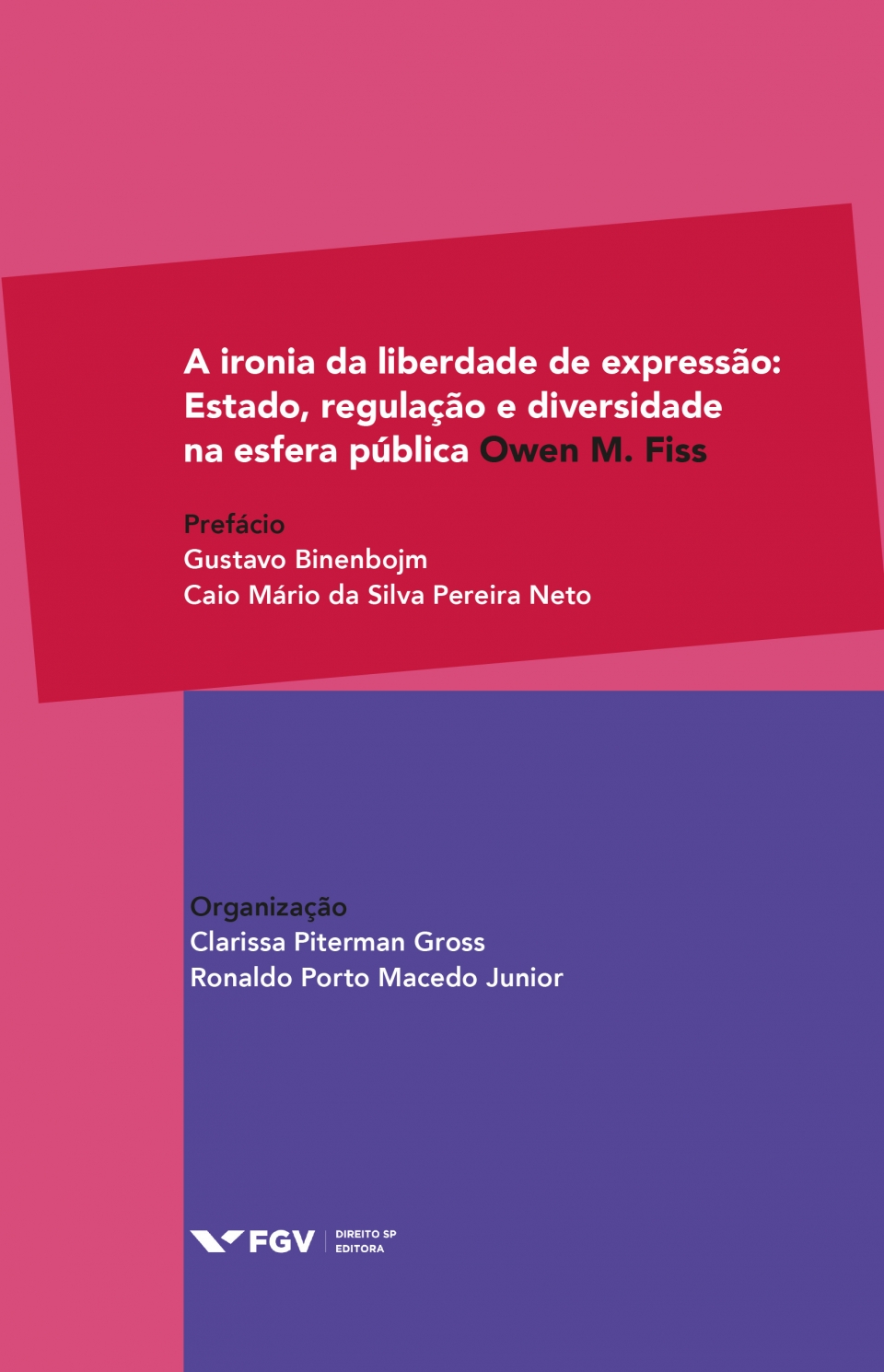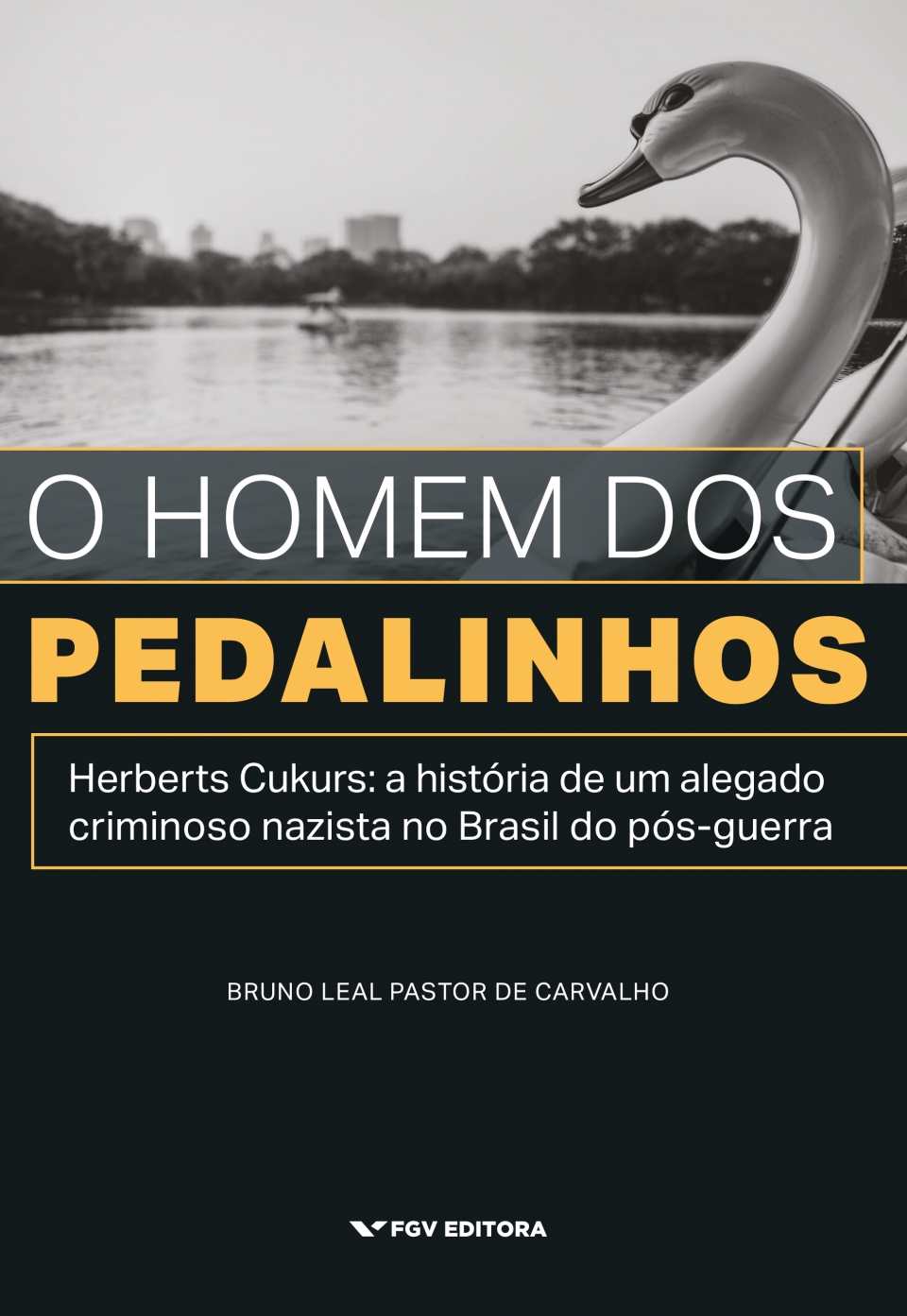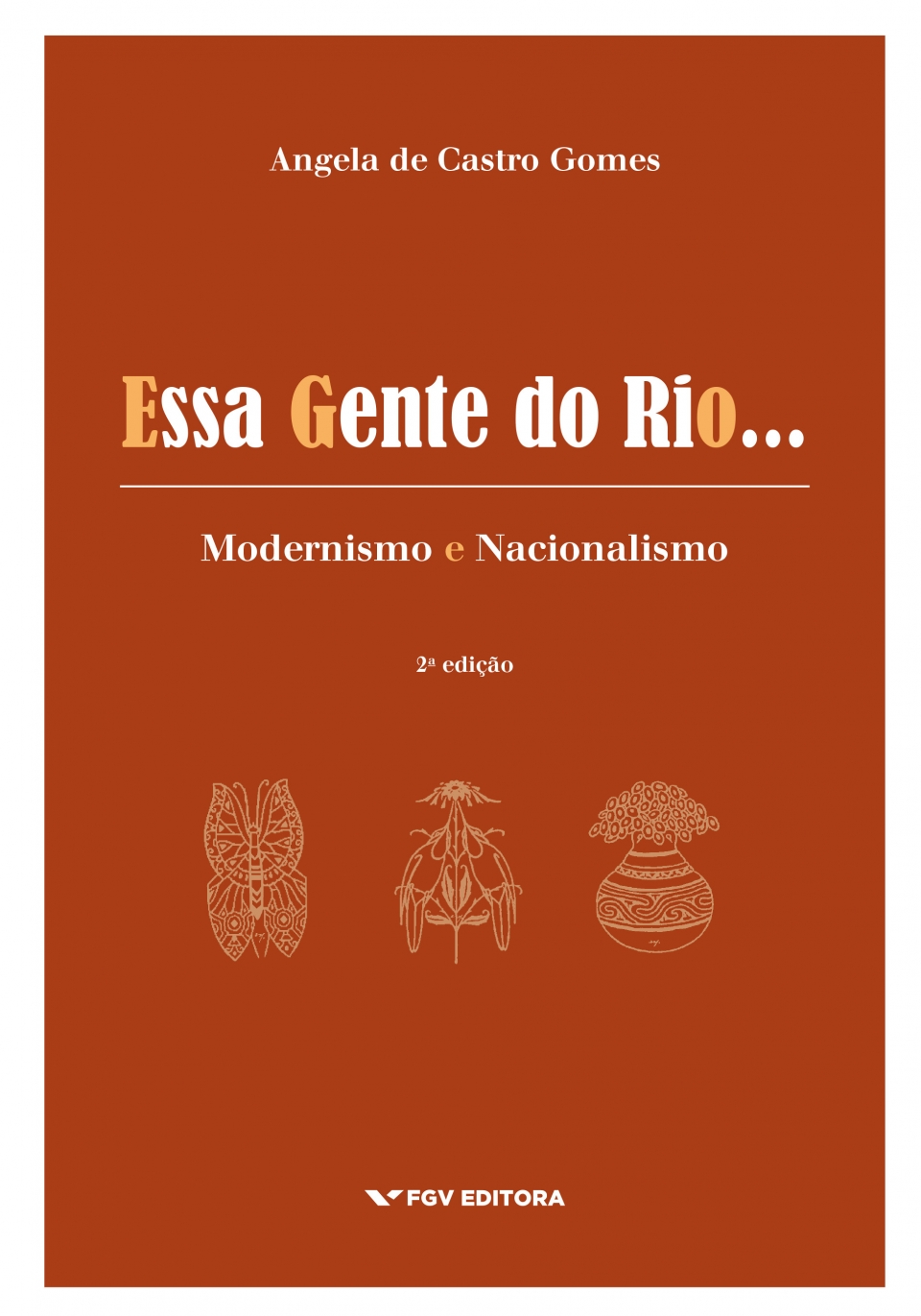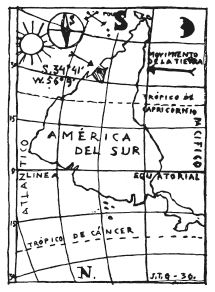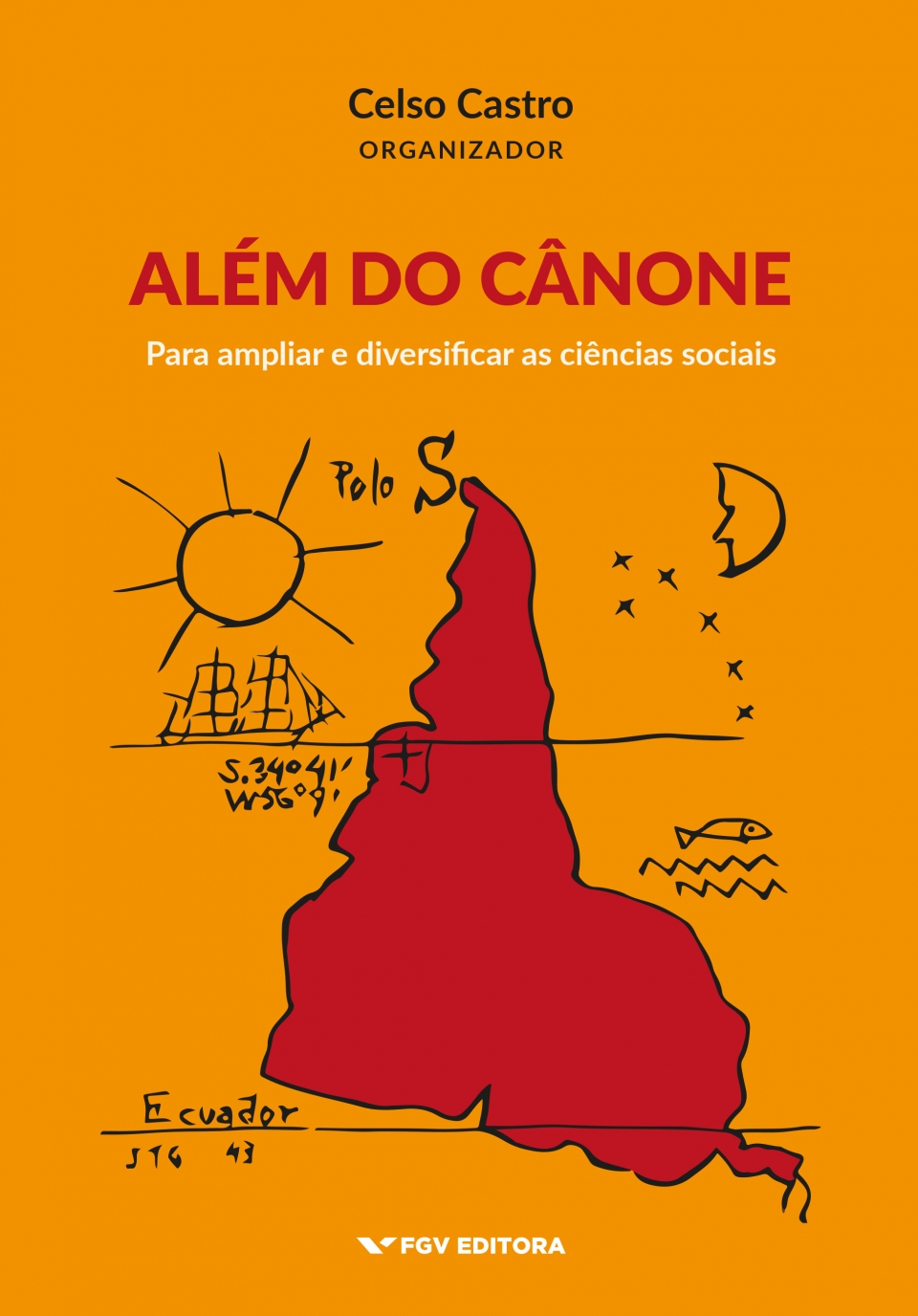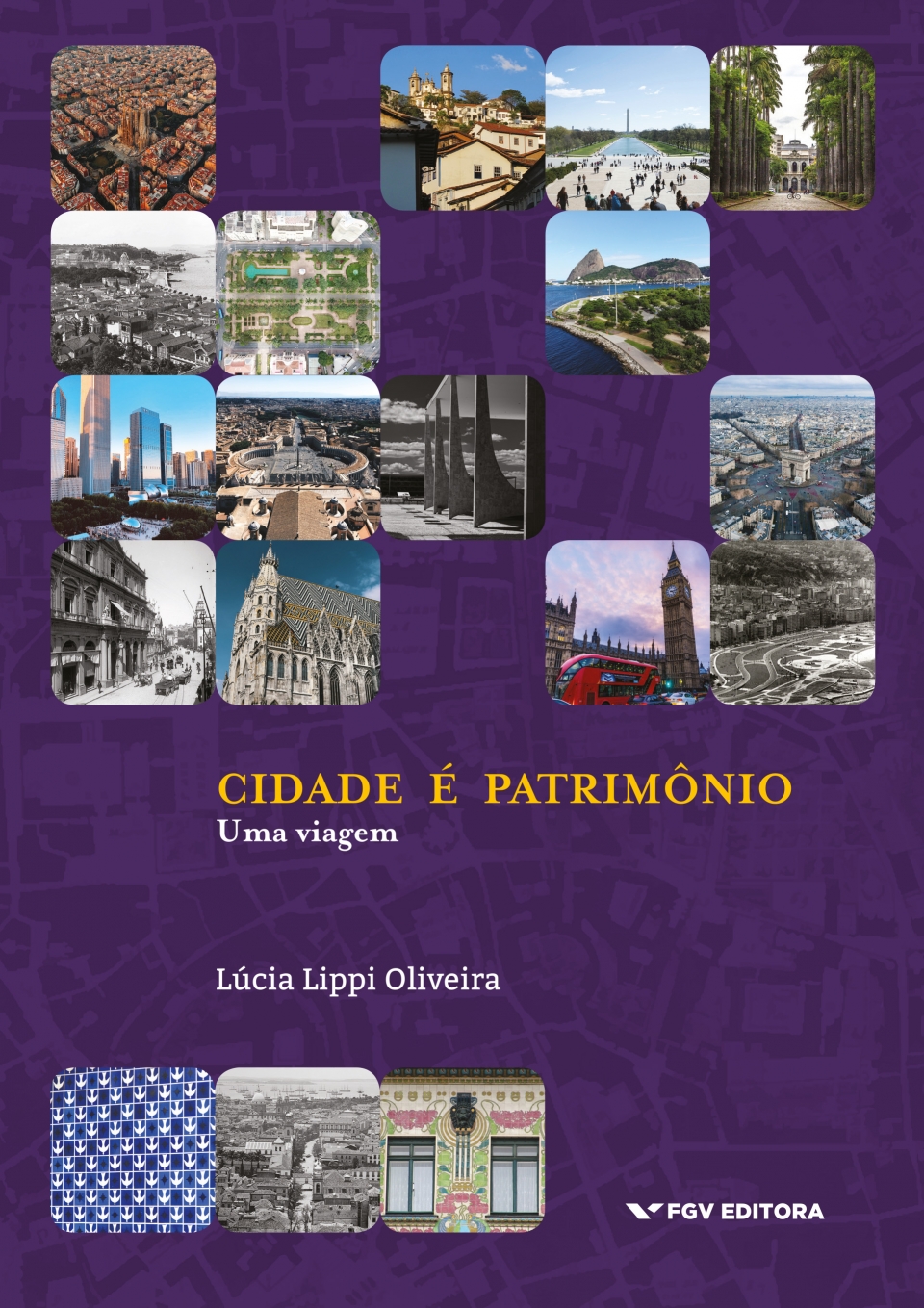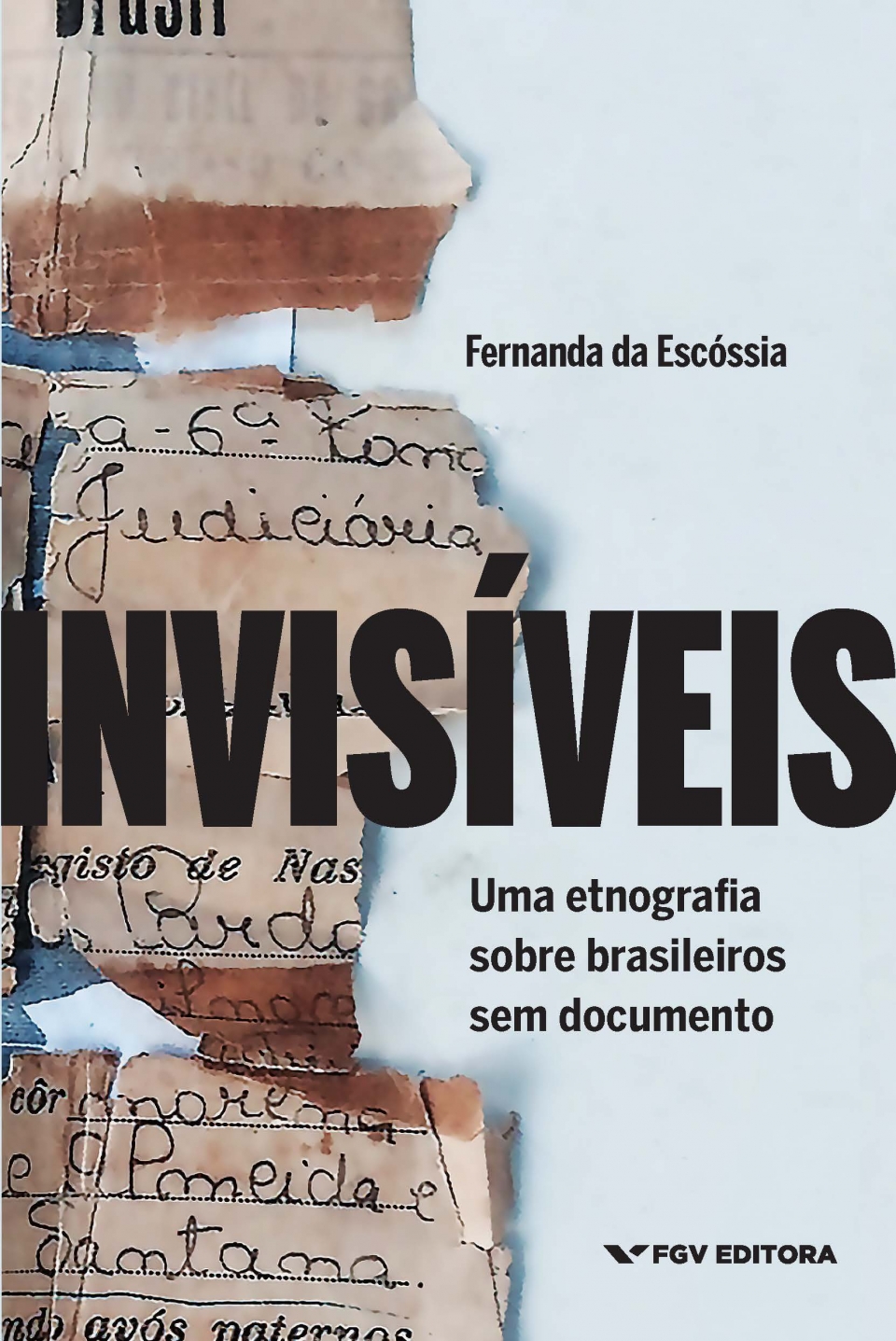O livro Império em disputa: coroa, oligarquia e povo na formação do Estado brasileiro (1823-1870), escrito pelos historiadores Thiago Krause e Rodrigo Goyena Soares e publicado pela FGV Editora, tem início com a fundação do Império do Brasil e apresenta uma nova síntese historiográfica sobre este período, voltada tanto aos especialistas como ao público leitor mais amplo.
Este segundo volume da coleção ‘Uma outra história do Brasil’ aborda período pós Independência.
Confira a seguir o prefácio do historiador e professor da USP, Rafael de Bivar Marquese:
Este volume, parte da coleção “Uma outra história do Brasil”, da FGV editora, traz uma grande contribuição para a história do Brasil Império. Ele reúne dois jovens historiadores, com trajetórias acadêmicas distintas no que refere aos temas prévios de estudo e às escolas historiográficas em que se formaram, mas cujas respectivas preocupações convergem de maneira clara.
A excelência da pesquisa de base, uma escrita da história teoricamente informada e o cuidado permanente em articular perspectivas analíticas em geral tomadas como antagônicas são aspectos que unificam os percursos de Thiago Nascimento Krause e Rodrigo Goyena Soares.
Eles se valem desse equipamento para enfrentar o difícil desafio de apresentar uma nova síntese historiográfica sobre o Império do Brasil, voltada tanto aos especialistas como ao público leitor mais amplo.
Exercícios como este, que conjugam pleno domínio do campo, mobilização de fontes primárias, discussões historiográficas de fundo e uma exposição elegante e direta, porém sem simplificações, infelizmente são raros em nosso meio historiográfico. Se, por um lado, o culto à monografia — verificado em teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos publicados em revistas especializadas — foi imprescindível para que a historiografia brasileira desse o salto constatado após a profissionalização do ofício da história em nossas terras (no que já vai meio século…), por outro lado, ele levou a um certo desdém com as obras de síntese. Livros com esse escopo ajudam, e muito, a colocar ordem no campo. Fora do Brasil, eles gozam de um prestígio acadêmico e intelectual que não têm por aqui. Talvez o exemplo máximo do que estou afirmando sejam as quatro Eras compostas por Eric Hobsbawm entre 1962 e 1994: malgrado seu enorme sucesso editorial no Brasil, essas obras não estimularam nossos melhores historiadores e historiadoras a produzirem algo semelhante — mesmo que fosse tão somente na forma — relativo à nossa história.
O período imperial brasileiro tem gerado nos últimos anos um sem-número de ótimos trabalhos acadêmicos. Porém, salvo exceções, o que predomina é a fragmentação temática, espacial e cronológica das perspectivas adotadas. Não raro, quem trabalha com escravidão crê que examinar os grupos dirigentes nada lhe acrescentará; quem examina a cultura acredita que a economia constitui um mundo à parte; quem olha para o Rio Grande do Sul não olha para o Vale Amazônico. Os exemplos poderiam ser multiplicados. Acrescenta-se a dificuldade inata em lidar com uma quadra ao longo da qual o Brasil passou por várias convulsões políticas e sociais, cisões profundas entre o Primeiro Reinado e o Segundo Reinado e o maior conflito militar externo já enfrentado por nosso Estado nacional.
Diante de tais desafios, Krause e Goyena Soares realizaram um enorme feito. Eles nos apresentam uma combinação equilibrada de narrativa temporal e descrição analítica que se mostra notavelmente capaz de dar conta da dialética da duração de um arco de tempo que vai da fundação do Império do Brasil à sua crise, a que se seguiu ao término da Guerra do Paraguai e à aprovação da Lei do Ventre Livre.
A cada passo, os autores explicitam as articulações de fundo entre a chamada alta política e os movimentos sociais dos subalternos, a política externa e os caminhos tomados pela construção da ordem nacional, a história financeira e seus desdobramentos na reiteração cotidiana das relações sociais.
A síntese interpretativa que eles trazem tem dois pontos de fuga. O primeiro é a centralidade da escravidão negra para nossa formação como um país independente. Mais do que um legado colonial que o Império se encarregaria de encerrar assim que possível, a escravidão como um projeto nacional, imposto ao conjunto do país em meio a disputas de toda ordem, foi o que deu a solda para a construção do Estado nacional brasileiro sob a roupagem de uma monarquia constitucional. O segundo é a recusa a uma leitura personalista da história, algo que tem se manifestado na multiplicação recente de biografias. O livro opera, de forma muito sofisticada, com o pressuposto da relativa autonomia do político em relação ao quadro econômico nacional e às ordens regionais e globais mais amplas. Mas, no reverso dessa medalha, os autores tampouco deixam de chamar constantemente a atenção para as articulações dialéticas das diversas esferas de existência da vida social, bem como para as dimensões globais de fenômenos que, no mais das vezes, são tomados como exclusivamente nacionais. Pode-se afirmar, aliás, que o livro, ao descortinar os liames entre a escravidão negra, a estrutura financeira imperial e os ritmos da política externa, não apenas sintetiza trabalhos pioneiros realizados nos últimos anos, mas traz, em si, a proposta de uma agenda renovada de investigação.
Tudo isso vem temperado por uma atitude intelectual fortemente antidogmática, que se mostra aberta às mais variadas matrizes teóricas de interpretação do passado brasileiro. Os especialistas saberão identificar facilmente essas marcas abrangentes de tratamento historiográfico; aos não-especialistas, restará a certeza de estarem diante de uma obra de peso, daquelas que conferem um claro sentido histórico ao mundo em que vivemos.
Para marcar o lançamento desta obra, os autores estarão presentes em eventos no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O evento do Rio terá a participação do presidente da Fundação Getulio Vargas, professor Carlos Ivan Simonsen Leal, e um bate-papo com os autores no auditório da FGV (Praia de Botafogo, 190 – 12º andar), dia 17/8 às 17h.
Em São Paulo, os autores promovem novo encontro na Livraria Martins Fontes Paulista (Avenida Paulista, 509), dia 22/8 às 18h.
Império em disputa: coroa, oligarquia e povo na formação do Estado brasileiro (1823-1870)
Thiago Krause e Rodrigo Goyena Soares