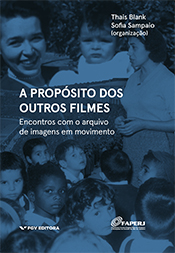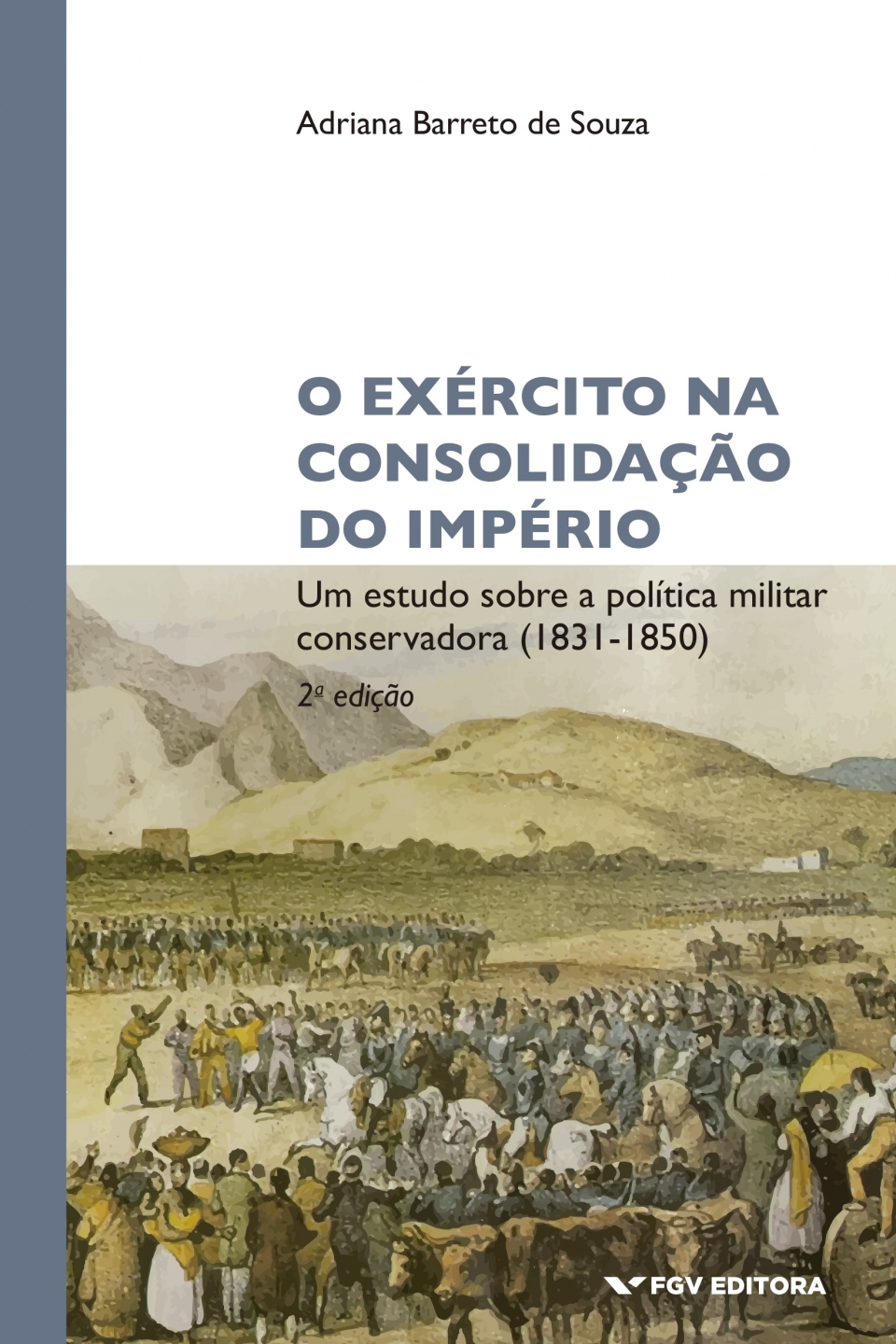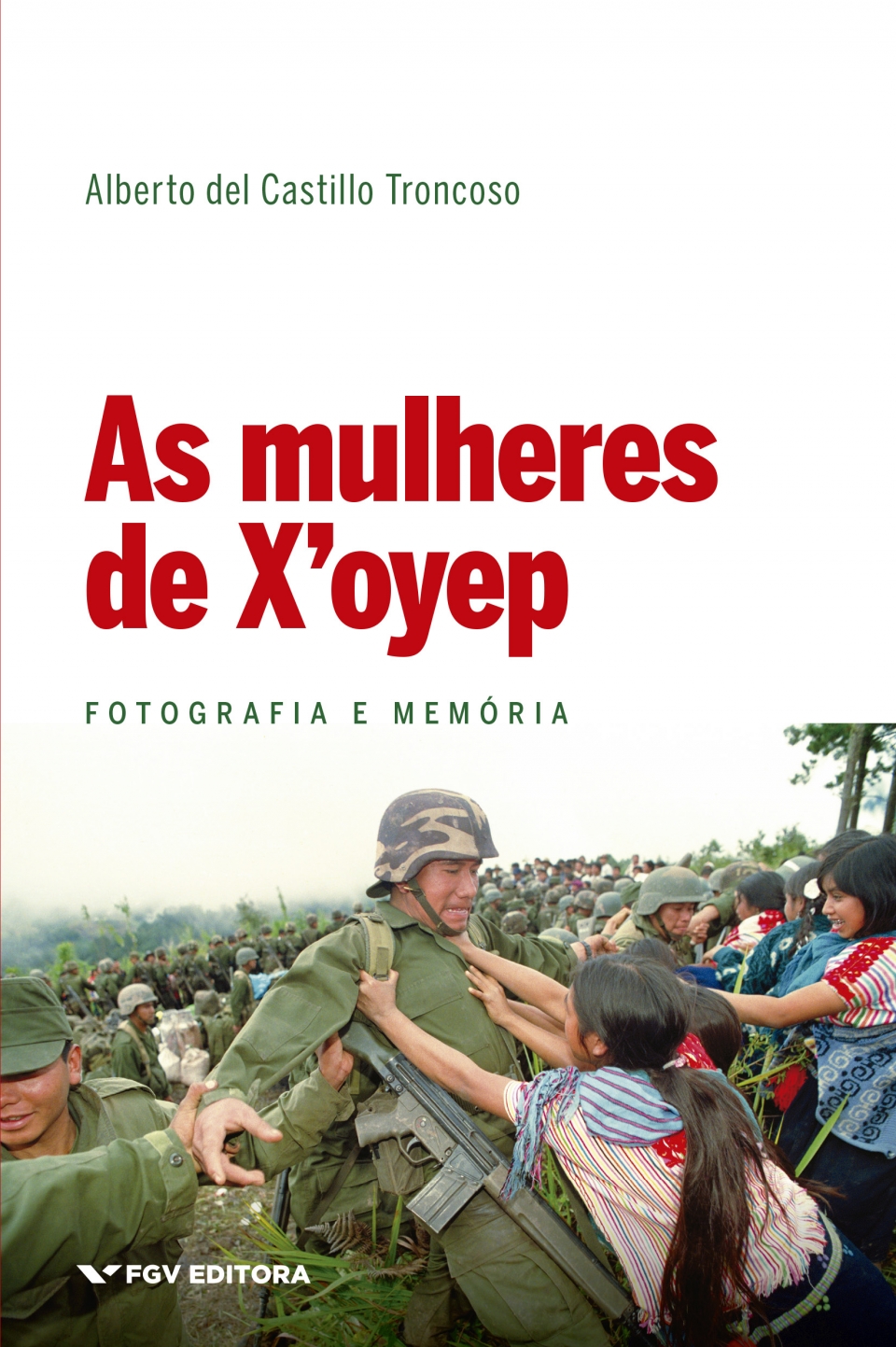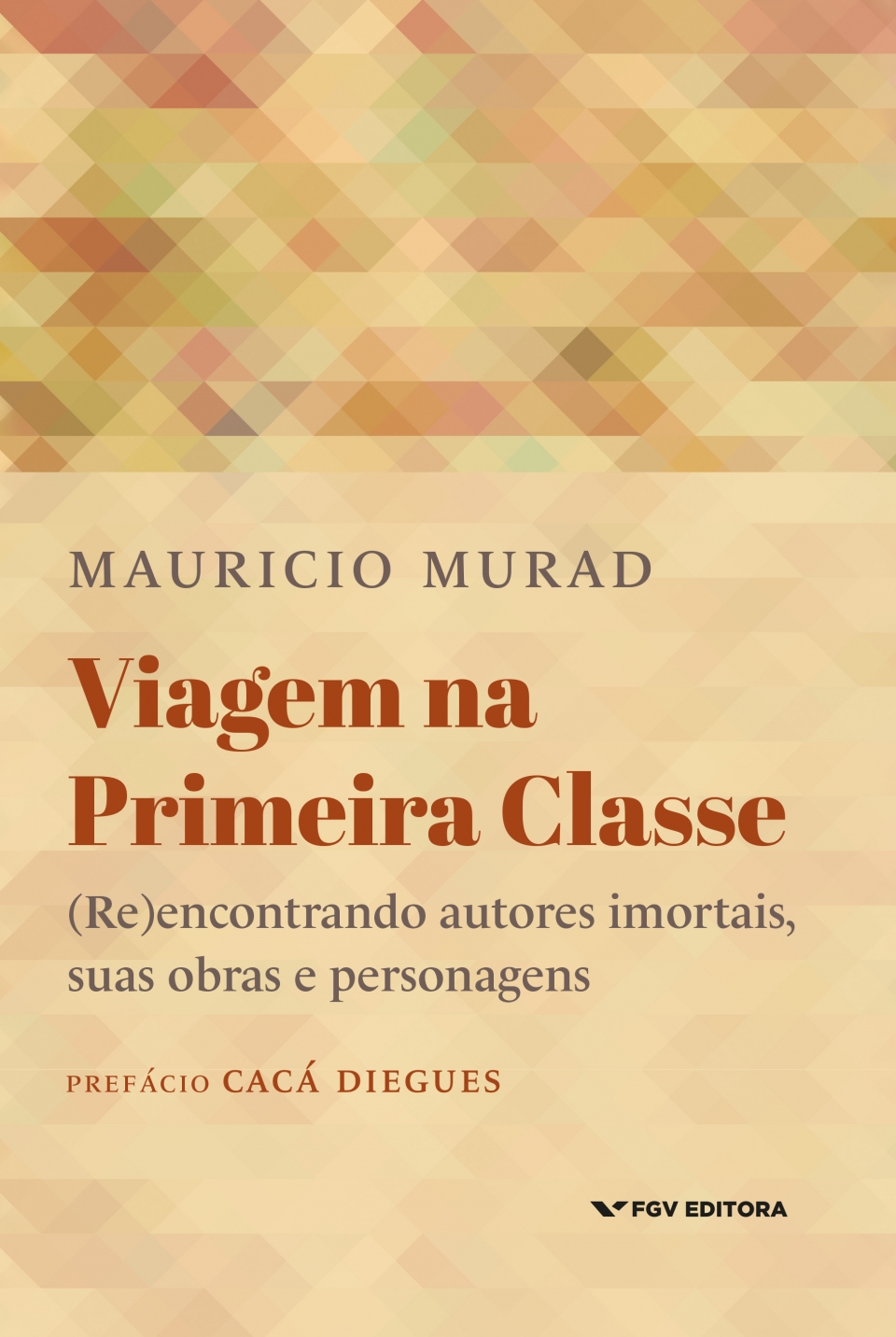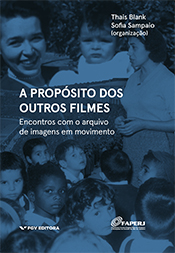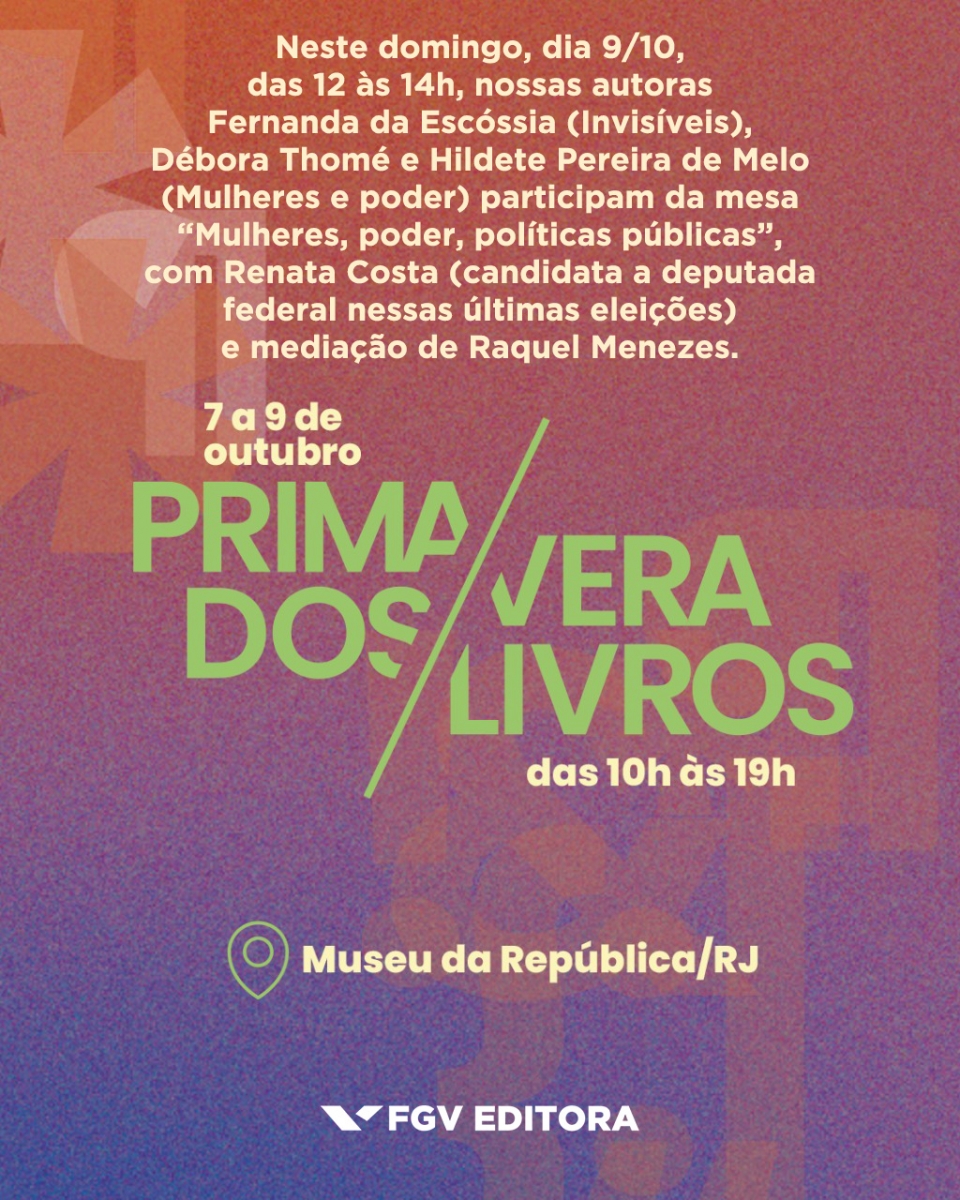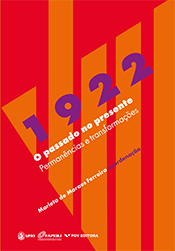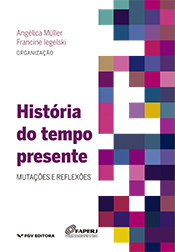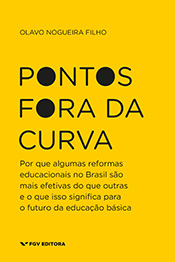Os estudos que compõem este livro pretendem pensar o arquivo e a história do cinema por meio dos outros filmes, explorando caminhos que, partindo da heterogeneidade e irredutibilidade das imagens em movimento, nos podem levar em várias direções. O arquivo liga-nos aos passados que vingaram
no presente, mas também aos que o falharam e que agora reemergem, inspirando novas obras e pesquisas.
Para marcar o lançamento desta obra, vamos promover um bate-papo com a presença de Thais Blank, professora da FGV CPDOC, Patricia Machado, professora da PUC Rio, Leandro Pimentel, professor da UERJ e Celso Castro, professor da FGV CPDOC, que possuem textos nesta publicação, na Blooks Livraria, dia 27/10, às 19h.
Confira a introdução da obra:
Os arquivos de imagens em movimento vistos à luz dos outros filmes: perspectivas de análise e desafios
Esse livro resulta do trabalho desenvolvido ao longos dos últimos oito anos no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) Outros Filmes, da Associação dos Investigadores da Imagem em Movimento (AIM). O GT foi criado em 2013 e encontrou nos Encontros da AIM um espaço regular de apresentação e discussão das pesquisas (muitas vezes preliminares ou ainda em curso) dos seus membros. Inicialmente, moveu-nos uma inquietação: como pesquisadores interessados pelas imagens não canônicas do cinema, percebíamos que existiam poucos espaços institucionais onde podíamos compartilhar nosso trabalho e percorrer juntos novos caminhos de pesquisa. Em um primeiro momento o uso do termo outros filmes causou um certo estranhamento. Que filmes seriam estes? De que seria composta essa alteridade do cinema? O que uniria essas imagens nesse guarda-chuva da alteridade? Alteridade constituída em relação a quem? Para haver o outro é preciso haver também um ponto de vista hegemônico; que hegemonia seria essa?
Ao longo desses anos, nos encontros do GT, mas também nos trabalhos que fomos desenvolvendo, paralelamente à AIM, em várias geografias (Portugal, Brasil, França, Espanha), esses questionamentos foram tomando forma. Passado esse tempo, podemos afirmar que o campo dos outros filmes constitui-se como um campo de pesquisa interdisciplinar voltado para objetos fílmicos que possuem em comum a marca de terem sido excluídos das grandes narrativas e da historiografia clássica do cinema. Filmes institucionais, filmes turísticos e de atualidades, imagens amadoras e de câmara de vigilância, filmes científicos e com fins didáticos são exemplos de imagens que ficaram à margem dos estudos cinematográficos tradicionalmente centrados no filme de autor, na ficção e nos formatos de longa-metragem. Podíamos falar de muitos outros (como os filmes de animação ou publicitários), mas os trabalhos que nos chegaram não cobriram o amplo leque de possibilidades que se abre a esta profícua via de análise. Desde cedo, foram três os objetos de estudo que se destacaram nos nossos fóruns: os filmes (de) amadores (e, em especial, os filmes de família); as atualidades filmadas (também conhecidas por “cinejornais”); e os filmes de tipologia variada (documentário ou ficção) que recorrem ao arquivo para se apropriarem de imagens aí existentes, conferindo-lhes novos significados e oferecendo-lhes uma nova vida. Como veremos, esta preferência ou incidência investigativa encontra-se amplamente refletida na organização e nos conteúdos deste livro.
Ao longo dos últimos anos tornou-se igualmente evidente que os outros filmes, como campo de investigação, possuíam sua própria história. Uma história, como não podia deixar de ser, muito anterior a 2013. As atualidades filmadas, bem como as imagens amadoras, remontam aos inícios do cinema, perdendo-se nesse “caldo” cultural híbrido e intermedial que antecedeu o “segundo nascimento” do cinema como uma instituição — para adotar a tese de André Gaudreault e Philippe Marion. A formação dos primeiros arquivos de imagens em movimento, em meados da década de 1930, bem como da Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), pouco tempo depois, tornaram possível a salvaguarda e conservação de imagens em risco de desaparecimento. O objetivo principal dessas instituições era a troca de cópias, com vista à disseminação de uma história universal do cinema como arte, construída a partir de uma seleção mais ou menos consensual de obras e autores e, consequentemente, da formação de um cânone (Dupin, 2013:44). Mas o sentido de missão patrimonial — muitas vezes aliado ao acaso — acabou por resultar também na recolha e coleção de um outro tipo de imagens — as de não ficção — que cedo se constituíram como uma parte numericamente significativa dos acervos.
A história da formação e consagração dos estudos de cinema requereria uma seção à parte, que não nos compete aqui fazer, mas é importante sublinhar que essa história se desenvolveu, em grande parte, longe dos arquivos — já para não falar das imagens menores aí guardadas. Os cinejornais representam, de certo modo, um caso à parte. Frequentemente ligados a contextos de guerra e revolução, os cinejornais atraíram desde cedo a atenção de historiadores, cientistas políticos e estudiosos da comunicação, quer pela historicidade que lhes é inerente como testemunhos de uma época, quer pelos usos políticos e ideológicos a que se encontram igualmente associados. História e propaganda (e a relação de ambas com o cinema) têm sido, pois, os principais vetores de análise dos cinejornais. Mais recentemente, assistimos à multiplicação de iniciativas, dispersas por diferentes países e centros de investigação, que buscam chamar atenção para a necessidade da crítica e da história do cinema incorporarem em suas narrativas as imagens de não ficção, não canônicas ou marginais. Nos anos 1990, surge, no contexto anglo-saxão, a discussão em torno dos filmes órfãos, cujos autores são desconhecidos e sobre os quais não são investidos poderes e saberes que garantam sua durabilidade nos arquivos ou na história do cinema. No final da mesma década, são publicados os primeiros trabalhos do francês Roger Odin (1995) e da americana Patricia Zimmermann (1995) sobre o cinema amador. Na França, no mesmo período, foram criadas as primeiras Cinematecas Regionais, interessadas em salvaguardar a cultura local, que acabaram por se configurar como centros de preservação do cinema marginal ou não profissional. Dois outros momentos merecem uma menção, ainda que breve: em 1994, teve lugar, no Nederlands Filmmuseum de Amsterdã, um seminário sobre os primeiros filmes de não ficção da história do cinema; e em 1997, foram iniciados os trabalhos na National Film Preservation Foundation, que assumiu como missão “salvar os filmes americanos que provavelmente não sobreviveriam sem investimento público”.
Os interesses acadêmico e arquivístico pelas outras imagens têm vindo a alimentar-se mutuamente. A academia passou a produzir teorias e métodos de abordagem para esse cinema que se encontrava, até então, à margem, e os arquivos audiovisuais começaram explicitamente a incorporar em suas agendas de trabalho a missão de salvaguardar e patrimonializar imagens entendidas por muitos como descartáveis. Assim, desenvolveram-se novos aportes teóricos e metodológicos concomitantemente a novas formas de pensar o arquivo, à criação de novos arquivos e — não menos importante — ao acesso de cada vez mais pesquisadores aos arquivos. As pesquisas desenvolvidas no âmbito do GT Outros Filmes são um produto de todas estas movimentações que afetaram, com diferentes graus de intensidade, os mundos acadêmicos e arquivísticos, no que às imagens em movimento dizem respeito, de Portugal e do Brasil. Nos diversos encontros em que participamos, foi evidente a necessidade de realizar uma reflexão profunda, não só acerca das imagens de arquivo que nos interessavam, mas também do próprio arquivo, entendido como um espaço para fora do qual as imagens se lançam em percursos migratórios. A trajetória dos outros filmes está intimamente ligada à história dos arquivos audiovisuais, pois é, em geral, no seio deles — arquivos públicos e privados — que essas imagens sobrevivem. É também no encontro com o arquivo que as imagens ganham novos sentidos, seja pela mão dos pesquisadores seja pela mão dos cineastas, como veremos.
As pesquisas que integram o GT Outros Filmes, e que compõem este livro, interrogam as imagens a partir não apenas de um ponto de vista estético, mas também da sua materialidade, encarando-as como imagens sobreviventes e migrantes que resistem, apesar de tudo, às ações humanas e do tempo. Como indica Stuart Hall (2016), a “política das imagens” é uma política da representação, num campo onde os sentidos (pessoais, sociais, políticos) estão em permanente disputa. Mas ela é, também, uma política de seleção de visibilidade e permanência — nos arquivos como na história do cinema. Os estudos que compõem este livro propõem revisitar o não canônico, pensar novos objetos e, a partir deles, pensar novas formas do fazer histórico e cinematográfico. Ao revelar as imagens na sua mais crua materialidade, o arquivo acaba também por revelar os limites elásticos e porosos do cinema — esse fenômeno social tão difuso quanto criativo que nos traz ecos de tempos e vidas que já passaram, mas que continuam a assombrar-nos como fantasmas que conosco coabitam.
O livro divide-se em três partes. A primeira parte, intitulada Outros arquivos, outros filmes, outras histórias, inclui três capítulos que abordam dois tipos de outros filmes — filmes de atualidades, nos dois primeiros casos, e filmes amadores, no terceiro caso — para com eles (re)visitar aspectos da história do Estado Novo português e de dois impérios coloniais, o português e o francês. A abrir a seção, Sofia Sampaio propõe uma leitura empírica das atualidades produzidas para o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN/SNI), nos primeiros anos do Estado Novo. Trata-se da série Jornal Português: Revista Mensal de Actualidades, recentemente editada em DVD pela Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, onde as imagens se encontram depositadas e preservadas. A autora socorre-se da sociologia da cultura e da teoria da comunicação para desenhar um retrato mais fino das relações que se estabeleceram, nesse período, entre o campo cinematográfico e o campo político. Um dos objetivos do texto é devolver ao cinejornal seu estatuto de objeto cinematográfico, reatando-o com a história do cinema (nomeadamente, com o “cinema de atrações”) e resgatando-o a uma tradição de análise cujo enfoque tem sido predominantemente propagandístico. No segundo capítulo, o historiador Marcos Cardão analisa as Atualidades de Angola, produzidas, entre 1957 e 1974, pela seção de publicidade da Direção dos Serviços de Fazenda e Contabilidade de Angola e, a partir de 1959, pelo Centro de Informação e Turismo de Angola (Cita). Num texto que lança algumas notas sobre os desafios do trabalho de investigação em arquivos audiovisuais, o autor seleciona um conjunto de temáticas — o turismo, os lazeres e entretenimentos, os rituais de Estado, certos núcleos de “modernidade” (indústria, planeamento urbanístico, arquitetura, meios de transporte, consumo) — para discutir a “viragem luso-tropical” que marcou o colonialismo tardio português. Não obstante seu papel como caixa de ressonância do poder colonial, Cardão conclui que as Atualidades de Angola “pouco fizeram para validar os postulados do excecionalismo português”.
No capítulo seguinte, Beatriz Rodovalho aborda três coleções do fundo amador do Forum des Images, para analisar filmes do cirurgião-dentista e cineclubista Charles-Henri Leclerc-d’Orléac; do funcionário público, também cineclubista, Michel Guyot; e de um casal de professores, Alain e Janine Cachia (ele franco-tunisino, ela bretã). Do primeiro, a autora destaca “um filme de viagem peculiar”, que relata a viagem do cidadão francês à Costa do Marfim, em 1958, por ocasião da geminação da sua cidade com uma outra costa-marfinense. A_Proposito_Outros_Filmes.indd 11 04/08/2022 14:41:53
Rodovalho vê nestas imagens exemplos de um “olhar etnocêntrico”. Já nos filmes de família de Guyot, que mostram as viagens do cineasta amador à Martinica, entre 1969 e 1998, em visita à família da sua esposa, a autora reconhece a capacidade de “ultrapassar fronteiras históricas e transitar pelo espaço simbólico da alteridade”. Por fim, numa análise de maior fôlego, que abarca vários filmes de viagem que a família Cachia realizou entre a Tunísia, a França e o Madagascar, durante as décadas de 1960 e 1970, e que se beneficiou do testemunho (recolhido por e-mail) do cineasta amador, a autora deslinda várias dimensões do filme doméstico — a dimensão mnêmica de “álbum de família”; a dimensão epistolar, de “filme-souvenir”; a dimensão relacional, ou mesmo territorial, em que a câmara amadora se torna um instrumento de construção de “territórios geoafetivos”.
Ainda que partindo de áreas científicas distintas, quer Cardão quer Rodovalho interrogam o papel das imagens de arquivo (ou das “fontes audiovisuais”) na produção do conhecimento e da historiografia, vendo nelas um potencial complemento ou contraponto aos “objetos impressos” (no caso de Cardão) e às imagens não amadoras (no caso de Rodovalho). Nos três capítulos, os autores confrontam ausências conspícuas e presenças previsíveis, que carecem sempre da interpretação de quem as vê: é o caso das imagens do público, no Jornal Português; das representações da população negra, nas Atualidades de Angola; e das imagens amadoras que sobrepõem o olhar do visitante francês ao “outro”, em território africano (pós)colonial. Apesar das lacunas e aporias que rodeiam este tipo de pesquisa, os três autores desta seção vislumbram no arquivo de imagens em movimento novas possibilidades para a escrita da história — ou mesmo a possibilidade de uma “contra-história” (segundo Rodovalho).
É na segunda parte, A circulação de imagens e os usos do arquivo, que reunimos quatro textos sobre um dos principais interesses de pesquisa do nosso GT: a migração de imagens para fora do arquivo e os diferentes sentidos que lhes vão sendo atribuídos ao longo das suas trajetórias no tempo e no espaço. Patrícia Machado começa por abordar a produção e circulação clandestina de imagens militantes produzidas no Brasil de 1968, em plena ditadura militar (1964-85).
A autora concentra sua análise nas imagens amadoras de dois eventos ocorridos nesse ano, no Rio de Janeiro — as cerimônias fúnebres do estudante Edson Luís e a Passeata dos Cem Mil —, filmadas pelos jovens cinéfilos Eduardo Escorel e José Carlos Avellar. Partindo de filmes que usaram esse material bruto — nomeadamente, noticieros do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficos (Icaic) e documentários do francês Chris Marker, realizados entre 1969 e 1977 — e cruzando diferentes documentos produzidos em sua órbita, aos quais junta entrevistas recentes, Machado recupera a trajetória de imagens que, por décadas, foram dadas como desaparecidas, numa pesquisa que a leva a percorrer os arquivos das cinematecas em São Paulo e Rio de Janeiro, os acervos televisivos da TV Tupi, e o arquivo da produtora franco-belga Slon/Iskra. A autora acaba por identificar “uma rede de circulação de imagens clandestinas” entre o Brasil, Cuba e França, que promete estimular mais pesquisas do gênero.
No capítulo seguinte, Maíra Bosi lança mão de uma estratégia semelhante para recuperar o sentido e a trajetória dos filmes de família produzidos em Super-8, entre as décadas de 1960 e 1980, na cidade de Fortaleza, e usados no filme de montagem de Danilo Carvalho, Supermemórias (2010). Por meio da análise da obra e do material bruto, bem como da realização de entrevistas ao realizador, aos cineastas amadores e seus familiares, Bosi propõe pensar a representação de Fortaleza nos filmes originais e a que resulta do filme de Carvalho, focando-se nas tensões latentes nas imagens entre o público e o privado. A autora destaca características que associamos a este tipo de filmes e formato — como o “valor de autenticidade”, em resultado de uma certa “precariedade técnica”, ou o “desejo oculto de sair do âmbito privado” — para analisar o potencial crítico do gesto de retomada que (por meio da montagem e da trilha sonora) confronta o espectador com as mudanças abruptas que acometeram a cidade, em grande parte provocadas por uma especulação imobiliária desenfreada. A partir de várias memórias privadas, o filme oferece, assim, uma memória pública a uma cidade que aparenta não a ter, constituindo-se dessa forma como um “lugar de memória”. O ponto alto do capítulo é, sem dúvida, a análise das imagens de demolição da casa de família da cineasta amadora Bárbara Mendes, cujo depoimento revela elementos que teriam permanecido inacessíveis se a autora se tivesse limitado a uma análise das imagens.
O capítulo seguinte, de Adriana Martins, debruça-se igualmente sobre os processos criativos de ressignificação de imagens públicas e privadas do passado na criação de memórias subjetivas, familiares e coletivas. O objeto de análise é o filme ensaio autobiográfico de Catarina Mourão, A toca do lobo (2015), que procura reconstituir a história do seu avô, o escritor Tomás de Figueiredo (1902-70), a partir de imagens de arquivo (filmes domésticos e álbuns de fotografia) e outros documentos e objetos. À (meta)reflexão da realizadora sobre cinema, A_Proposito_Outros_Filmes.indd 13 04/08/2022 arquivo, história e memória — elaborada no âmbito quer do filme, quer da tese de doutoramento que o acompanha — a autora acrescenta uma reflexão sobre as políticas da memória e esquecimento do Estado Novo português, onde a apropriação de arquivos assumidamente “lacunares” e a construção de “cartografias da memória” mediante uma prática arquivística e cinematográfica criativa ocupam hoje um lugar central.
Por fim, no último capítulo desta seção, Leandro Pimentel analisa o processo de migração das imagens no contexto televisivo, a partir do programa A revolução não será televisionada, de oito episódios, exibido pela TV USP em agosto de 2002. O autor demonstra como o coletivo ARNST se apropria de imagens produzidas para outros fins para construir, com a linguagem televisiva, uma narrativa contra-hegemônica. Inspirando-se no trabalho de Cildo Meirelles, Inserções em circuitos ideológicos (1970), Pimentel discute o potencial subversivo de várias estratégias de “interrupção” de práticas mediáticas tradicionais (ex.: a previsibilidade das emissões em direto, a edição em continuidade, o respeito pela quarta parede), que deslocam as imagens para fora dos seus contextos originais (ou convencionais) de produção, a fim de provocar a confusão temporária do espectador e estimular seu sentido crítico.
Como a seção mostra, o estudo da circulação de imagens e dos usos do arquivo é indissociável das questões da memória. Machado sublinha a “precariedade da memória audiovisual brasileira” e a necessidade de preservar as imagens raras que conseguiram chegar até nós por meio de redes clandestinas de circulação de imagens (nas quais as cinematecas e os festivais de cinema desempenharam um papel fundamental). Ainda que de maneira diferente, Bosi e Martins realçam o papel do cinema amador e dos filmes de apropriação ou “retomada” como instrumentos de preservação e construção de memórias privadas “perdidas” (Martins) ou até “ocultas” (Bosi). Para estas três autoras, dos arquivos e da preservação de imagens depende a construção de uma memória coletiva crítica — seja da violência de Estado da ditadura militar, hoje negada por vastos setores da sociedade brasileira (Machado), seja de um capitalismo selvagem de longa duração com efeitos devastadores para uma cidade e seus habitantes (Bosi), seja ainda das instituições repressivas do Estado Novo, que marcaram — e, até certo ponto, ainda marcam — a vivência pública e privada de inúmeros portugueses (Martins). Já Pimentel encontra uma relação mais ativa e politicamente engajada com o arquivo nas intervenções “artivistas”, que recorrem à “pilhagem” de imagens dos média hegemônicos (como a TV) para expor as ideologias naturalizadas, bem como as práticas visuais e sociais “excludentes e alienantes” (nas palavras citadas de Ana Maria Maia), em que eles assentam. Em alguns destes textos, as escolhas metodológicas revelaram-se determinantes para a pesquisa, destacando-se as entrevistas e (no caso de Bosi) a realização de visionamentos dos filmes com as famílias como estratégias para fazer falar o arquivo.
A terceira e última parte do livro reúne três textos que analisam as imagens e os arquivos audiovisuais como instrumentos científicos e pedagógicos, trazendo para a discussão alguns dos desafios inerentes a essas abordagens. No primeiro desses textos, Thais Blank reflete sobre sua experiência como coordenadora de oficinas de produção audiovisual que têm como principal objetivo a utilização de material de arquivo na criação de novos filmes. O ponto de partida dessa produção é o acervo de entrevistas de história oral e documentos textuais e iconográficos (imagens fixas e em movimento) do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getulio Vargas (FGV CPDOC), especializado na guarda de arquivos pessoais. O capitulo se debruça sobre três documentários que resultaram das oficinas — Almerinda: a luta continua (2015), de Cibele Tenório; A bacharel e o presidente (2015), de Nay Araújo; e As constituintes de 88 (2018), de Gregory Baltz — para pensar os modos de ressignificação das imagens (e do arquivo onde estão depositadas) a partir dos processos de realização destes filmes em contexto de sala de aula. Todos eles “abordam, por diferentes perspetivas, as trajetórias, conquistas e lutas de mulheres que estiveram no centro do poder”. Inspirada nas propostas de Jacques Rancière do cinema como prática emancipatória e nos projetos da Rede Latino-Americana de Cinema e Educação (RedeKino), criada em 2009, Blank defende a ideia de que o encontro entre o arquivo e os diferentes olhares dos participantes das oficinas permite a produção de um local de criação de mundos, onde reside a pedagogia da imagem.
A busca de um sentido pedagógico para as imagens é um desiderato antigo, como revela o capítulo seguinte, onde Thaís Lara mergulha na trajetória da escritora e professora Ilka Brunhilde Laurito (1925-2012), idealizadora da Cinemateca Infantil e figura central na criação e desenvolvimento do Departamento Infantil da Cinemateca Brasileira. Para a autora, Ilka Laurito projetou o Departamento “para pensar não somente na produção e exibição dos filmes, mas em uma pedagogia para as imagens”, o que faz dela uma pioneira no estudo dos atravessamentos entre cinema, arquivo e educação. Num estudo que cruza documentos de arquivo e entrevistas, a autora traz-nos “uma história não contada” sobre uma vertente do cinema pouco estudada. As principais questões identificadas há mais de 50 anos — a formação de técnicos especializados (nomeadamente, na área da programação); a questão do valor (i.e., do que constitui um “bom” ou “mau” filme); a formação de um acervo adequado; o equilíbrio entre perspetivas nacionais e internacionais — continuam a ser essenciais para pensar o papel das cinematecas nos dias de hoje, como agentes-chave na formação de públicos de cinema que se querem ativos na sua cidadania.
O livro encerra com um importante capítulo sobre o uso do audiovisual nas ciências sociais. Tendo por base um projeto de pesquisa sobre a memória das ciências sociais no Brasil, Celso Castro e Arbel Griner refletem sobre os desafios e as mudanças que se operaram com a adoção dos registros audiovisuais para a produção de fontes históricas, no âmbito do programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (FGV CPDOC). Os autores traçam o histórico desse processo, problematizando seus principais aspectos, entre eles: a resistência a métodos de registro alternativos à gravação em áudio; a falta de familiaridade da equipe com a produção audiovisual; as questões éticas colocadas pela suposta interferência da câmara e pela entrada da dimensão imagética no registro. O projeto veio ampliar o escopo e as possibilidades de um acervo histórico fundado em 1973, que é hoje uma referência internacional, revelando a importância da criação (e preservação) de arquivos que têm “como estrutura central a entrevista”. O capítulo termina com um balanço dos desafios experimentados e aponta para questões futuras associadas à virada digital e ao que ela pode significar no tratamento e na acessibilidade de um acervo que pretende ser “de uso coletivo”.
Antes de encerrar essa breve apresentação, não podemos deixar de notar os desafios que também nós enfrentamos para produzir este livro. Passaram-se mais de três anos entre sua concepção (quando pensamos, pela primeira vez, em marcar os cinco anos do GT Outros Filmes com uma antologia de textos) e sua publicação. A seleção dos textos foi feita depois de analisadas as propostas submetidas, por convite, pelos membros mais assíduos do GT ou que nele haviam apresentado trabalhos que nos pareciam interessantes para este projeto. Não podemos deixar de agradecer aos oito autores que generosamente nos confiaram seus textos, que gentilmente acederam a reescrevê-los à luz dos comentários dos revisores, que se esforçaram por respeitar nossos prazos e que, muito pacientemente, aguardaram o processo de submissão do manuscrito e responderam às solicitações dos editores, durante a fase de produção. Um sincero e enorme agradecimento é também devido aos membros da comissão científica que leram os textos com atenção e redigiram pareceres com sugestões perspicazes e pertinentes. A comissão científica foi formada por: Carolina Amaral de Aguiar, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Brasil; Teresa Castro, Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3, França; Paulo Cunha, Universidade da Beira Interior, Portugal; Tiago Baptista, Instituto de História Contemporânea (IHC), FCSH-Nova, Portugal; Reinaldo Cardenuto, Universidade Federal Fluminense, Brasil; Lila Foster, Universidade de Brasília, Brasil; Anita Leandro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil; Eduardo Morettin, Universidade de São Paulo, Brasil; Lúcia Monteiro, Universidade Federal Fluminense, Brasil; Manuela Penafria, Universidade da Beira Interior, Portugal; José Quental, Université Paris 8/Institut d’Histoire du temps Présent (IHTP/CNRS)/Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil; Susana Sousa Dias, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Portugal; Robert Stock, Universidade de Konstanz, Alemanha e Rafael de Luna Freire, Universidade Federal Fluminense, Brasil. Sem o contributo de uns e de outros este livro não teria sido possível. O resultado aí está, para ser lido e discutido.
É nosso intuito, com este livro, contribuir para o avanço e robustecimento do estudo dos outros filmes, dos arquivos de imagens em movimento e das imagens em movimento, em geral, em ambos os lados do Atlântico. Não é demais sublinhar a componente transatlântica que tem acompanhado, desde seu início, o GT, tornando-o um espaço aberto e dinâmico, feito de pontes e partilhas que nos têm enriquecido a todos. Em jeito de conclusão, diríamos que pensar o arquivo por meio dos outros filmes é pensar o cinema com e na história, explorando uma série de caminhos que, partindo da absoluta heterogeneidade e irredutibilidade das imagens em movimento, nos podem levar em várias direções. O arquivo liga-nos aos passados que ajudaram a construir nosso presente — ou que o falharam e foram ficando para trás, esquecidos. Mas também nos liga aos potenciais futuros que, expectantes, aguardam os resultados dos nossos pequenos atos de pesquisa e imaginação.
Os arquivos de imagens em movimento vistos à luz dos outros filmes: perspectivas de análise e desafios
Organizadoras: Thais Blank, Sofia Sampaio