Este não pretende ser mais um livro sobre relações raciais, lutas indígenas ou o movimento de consciência negra no Brasil; sua preocupação é fundamentalmente com a forma como cada uma dessas questões se inter-relaciona com - e pode até reformular - a lei e seus efeitos sobre a vida de pessoas como as que habitam as margens do rio São Francisco no Mocambo e a ilha de São Pedro.
Confira o prefácio da obra Tornar-se negro ou índio: a legalização das identidades no Nordeste brasileiro de Jan Hoffman French:
No sertão nordestino assolado pela pobreza, grupos de camponeses têm sido reconhecidos como tribos indígenas ou descendentes de antigas comunidades de quilombo pelo governo brasileiro desde a década de 1970. Neste livro, explico como dois desses grupos, vizinhos e aparentados, passaram a se autoidentificar como distintos do ponto de vista etnorracial e recorreram a leis federais diferentes em sua luta por reconhecimento e terra. Fui apresentada à área que se tornaria meu campo de pesquisa pelo Centro Dom José Brandão de Castro, organização não governamental que se vinculara à Igreja Católica há poucos anos. Sabendo de meu interesse por índios afrodescendentes nos Estados Unidos, um amigo brasileiro havia mencionado que conhecia alguns “negros” em Sergipe que havia recebido cartões da Funai, agência de proteção ao índio brasileira, que os identificava como membros da tribo indígena dos Xocó1. Quando esse amigo me colocou em contato com a equipe do Centro e expressei meu interesse em saber mais sobre os Xocó, explicaram-me que a maior parte de seu trabalho estava naquele momento sendo realizado no povoado vizinho, Mocambo. A maior parte dos moradores do Mocambo, dos quais a maioria tinha parentes entre os Xocó, era de trabalhadores rurais; eles haviam sido reconhecidos como uma comunidade de remanescentes de quilombo pelo governo brasileiro no ano anterior (1997) com base no art. 68 da Constituição de 1988, primeira constituição democrática desde a tomada do poder pelo regime militar em 1964. Assim, criaram-se as condições para uma situação inimaginável pelos padrões norte-americanos: duas comunidades vizinhas e aparentadas, cujos destinos estiveram completamente imbricados durante gerações, estavam agora separadas do ponto de vista da etnicidade, da raça, da política e da terra. Cada comunidade foi reconhecida por um órgão do governo federal distinto; uma é considerada índia e a outra, negra, embora todos descendam de africanos, índios e europeus.
Intrigada por essa configuração etnorracial e demográfica, viajei pela primeira vez a Sergipe em maio de 19982. Ao chegar ao aeroporto de uma única pista na capital de Sergipe, Aracaju, a primeira coisa que notei foi um mural de azulejos amarelos na área de restituição de bagagens. Ele retratava um grupo de índios dançando com lanças, saiotes de pena, cabelos compridos e padrões geométricos pintados sobre a pele3. Com base em pesquisa prévia, eu já sabia que o mural não era representativo dos habitantes da área, embora isso fosse parte importante do discurso sobre o legado e a história de Sergipe. Fui levada às pressas pela equipe do Centro para uma reunião envolvendo moradores do Mocambo, membros de outras comunidades negras rurais, um antropólogo brasileiro e membros da equipe de uma organização local do movimento de consciência negra. Sentada no chão com os líderes da comunidade, jovens e velhos, mulheres e homens, fui apresentada ao primeiro quilombo a obter reconhecimento pelo governo federal em Sergipe. Assisti-os desenhar mapas da organização espacial de seu povoado e fui informada sobre os trabalhos disponíveis, a terra e os serviços de que necessitavam. Alguns dias mais tarde, tomei um ônibus e viajei por estradas esburacadas até chegar ao interior do estado, onde estabeleceria contato com uma aldeia e
um povoado localizados às margens do rio São Francisco: Mocambo, o quilombo reconhecido, e a ilha de São Pedro, onde viviam os Xocó. Durante essa primeira viagem de ônibus de quatro horas, minha mente foi tomada por todas as imagens que eu vira, a música que ouvira e as histórias que lera sobre o Nordeste e seu rústico sertão semiárido. Observei como a paisagem mudava: dos campos verdes para as vastas extensões de terra empoeirada salpicada de vacas, das palmeiras para os cactos.
Ao longo dos anos que se seguiram a minha primeira visita, realizei amplas pesquisas etnográficas, históricas e legais tendo essas duas comunidades como foco. Aprendi sobre direito, raça, etnicidade, política e relações socioeconômicas no Brasil. Além da observação participante, realizei mais de uma centena de entrevistas (50 das quais foram gravadas e transcritas) com moradores, antigos proprietários de terra, advogados, antropólogos, ativistas, políticos e autoridades governamentais; analisei processos judiciais atuais e históricos; e realizei pesquisa documental em tribunais, junto ao governo, sobre a Igreja Católica, em jornais e arquivos pessoais. Contudo, uma metodologia é mais do que a mera forma como os dados são reunidos. Ela envolve a análise e revisão constante do entendimento que se tem sobre as pessoas e os lugares experienciados. Nesse caso, minha abordagem analítica permitiu-me desenvolver um modelo teórico com base em cada interação, em cada fração de conhecimento obtida. Esse modelo, que denominei “legalização das identidades”, explica a inter-relação entre práticas culturais, disposições legais e formação identitária.
Conforme realizava a pesquisa, descobri que no início da década de 1970 um grupo de trabalhadores rurais de ascendência mista – africana, indígena, portuguesa e holandesa – que vivia às margens do rio São Francisco havia procurado obter direitos sobre a terra e proteção contra os proprietários de terra locais, de lendária violência. Essa reivindicação de direitos foi facilitada pela chegada de um padre franciscano, o qual, incentivado por seu bispo, falou às pessoas sobre a potencial importância de sua ascendência indígena. Em 1973, a recém-articulada reivindicação de identidade indígena por parte dessas pessoas foi facilitada pela promulgação de uma nova lei nacional para reger os povos indígenas e seus direitos. Explico nesta obra como essa lei abriu inadvertidamente as portas para o reconhecimento de muitos grupos pelo governo no Nordeste, os quais eram antes considerados completamente assimilados pela sociedade dominante. A despeito do ceticismo local nos primeiros anos de luta, essas pessoas, que passaram a se chamar Xocó, obtiveram o reconhecimento oficial como tribo em 1979 e direito total à terra em 1991. Os Xocó são o único grupo indígena oficialmente reconhecido no Sergipe e a única comunidade a reivindicar a identidade indígena. O reconhecimento foi a culminância de encontros com proprietários de terra, policiais, juízes e advogados, e da ocupação ilegal da ilha de São Pedro. Este livro conta sua história.
Mais de duas décadas após o início da luta por reconhecimento xocó, os moradores do povoado ribeirinho vizinho do Mocambo, geralmente referidos como os “negros do Mocambo”, foram reconhecidos pelo governo como comunidade remanescente de quilombo. O reconhecimento foi acompanhado de uma mudança de atitude em relação a sua identidade como comunidade negra, bem como da propriedade da terra em que haviam trabalhado durante gerações. Isso se deu com base no art. 68, incluído na Constituição de 1988 em resposta à pressão por parte dos representantes do movimento negro e como desejo de lidar com o pluralismo na sociedade brasileira em um momento em que a ideologia nacional da democracia racial estava sendo cada vez mais posta em xeque. Esta obra explica e analisa o tortuoso caminho de revisão identitária percorrido pelos moradores do Mocambo.
Antes do advento da primeira das lutas, os indivíduos da área se identificavam como meeiros dos proprietários de terra para os quais trabalhavam e a cujos interesses serviam, em um sistema tradicional de clientelismo. As duas lutas, que obtiveram o auxílio de gerações
sucessivas de partidários da teologia da libertação católica (padres, bispos, freiras e clero secular), resultaram em uma revisão drástica da identificação etnorracial e política coletiva de cada comunidade, bem como da dinâmica do poder político na região. Os paralelos entre as duas gerações de agentes pastorais inspiradas pela teologia da libertação ficarão evidentes no decorrer da narrativa sobre as lutas do Xocó e do Mocambo. As histórias são diferentes em parte porque a luta xocó ocorreu durante a ditadura militar com uma igreja forte, orientada pela teologia da libertação, ao passo que a comunidade do Mocambo travou sua luta em um ambiente democrático, com uma hierarquia eclesiástica que procurava se afastar de seu legado progressista. Conforme o país se democratizava, as pessoas de cor em todo o mundo remoldavam e afirmavam suas respectivas identidades para obter terra, recursos e poder. No próprio Brasil tivera início um diálogo nacional sério sobre raça e cor. Essas mudanças refletem na vida dessas pessoas, as quais escolheram um modo de luta e sobrevivência que transformou sua identidade etnorracial e levou a reconfigurações de suas práticas culturais.
Os membros das comunidades do Xocó e do Mocambo partilham relações de parentesco e uma história comum como sertanejos e vaqueiros. Eles sempre estiveram profundamente envolvidos uns na vida dos outros, e essa relação prosseguiu a despeito de terem revisado e recontado novas e velhas histórias de luta. Em outras palavras, pessoas que não se distinguiam de outros camponeses sertanejos tiveram sucesso ao reivindicar uma identidade indígena ou quilombola, obtendo o reconhecimento do governo e o direito à terra e deslocando os proprietários de terra da elite. Isso ocorreu a despeito de os antropólogos que avaliaram a validade de suas reivindicações reconhecerem que as identidades etnorraciais afirmadas eram “construídas”, o que demonstra que a “autenticidade” não é um requisito da identidade por definição. Em uma reviravolta incomum, a noção de que raça e etnicidade são construções sociais reforçou, e não solapou, as reivindicações de diferença do Xocó e do Mocambo (ver Clifford, 1988).
Por meio dos esforços governamentais em prol das comunidades indígenas e negras rurais, o Estado assumiu inadvertidamente o papel de instigador, se não de criador, de novas identidades indígenas e quilombolas. Admiti-lo não atrapalhou o andamento dos reconhecimentos e da redistribuição de terra. A autoidentificação como índio ou quilombola alimenta-se de narrativas históricas imbricadas com a solidariedade social forjada nas lutas recentes por reconhecimento e terra. Entretanto, o sucesso dessas lutas depende de leis que foram promulgadas para reconhecer – mas obtiveram sucesso em criar – minorias etnorraciais dotadas de direitos. As fronteiras desse processo foram moldadas pelas crescentes divisões políticas e diferenças culturais entre os índios xocó e os quilombolas do Mocambo, que se estabeleceram conforme cada grupo procurava afirmar sua unidade interna. Embora relações familiares e uma história comum conectem as duas comunidades, as especificidades da luta pela terra de cada grupo e as expectativas associadas a ser índio ou negro levaram-nas a se distinguir. Hoje as pessoas dessas duas comunidadies se veem como diferentes, mas relacionadas. A diferenciação é mantida principalmente por corpos de leis distintos, instituições governamentais diversas, diferenças políticas, competição por recursos e desentendimentos familiares.
As lutas sucessivas das comunidades do Xocó e do Mocambo são ideais para se considerar como essa diferenciação opera tanto na realidade quanto nas práticas discursivas e culturais das pessoas que assumiram e viveram essas novas identidades – em outras palavras, como a legalização das identidades opera para modificar sua experiência vivida. No Brasil, que aboliu a escravidão somente em 1888, camponeses descendentes de africanos e indígenas mantiveram relações próximas durante séculos. Foi apenas com a aprovação e aplicação das leis que essas descendências começaram a se desintrincar, por vezes com consequências imbricadas. Como demonstro nesta obra, a
da identificação etnorracial e política coletiva de cada comunidade, bem como da dinâmica do poder político na região. Os paralelos entre as duas gerações de agentes pastorais inspiradas pela teologia da libertação ficarão evidentes no decorrer da narrativa sobre as lutas do Xocó e do Mocambo. As histórias são diferentes em parte porque a luta xocó ocorreu durante a ditadura militar com uma igreja forte, orientada pela teologia da libertação, ao passo que a comunidade do Mocambo travou sua luta em um ambiente democrático, com uma hierarquia eclesiástica que procurava se afastar de seu legado progressista. Conforme o país se democratizava, as pessoas de cor em todo o mundo remoldavam e afirmavam suas respectivas identidades para obter terra, recursos e poder. No próprio Brasil tivera início um diálogo nacional sério sobre raça e cor. Essas mudanças refletem na vida dessas pessoas, as quais escolheram um modo de luta e sobrevivência que transformou sua identidade etnorracial e levou a reconfigurações de suas práticas culturais.
Os membros das comunidades do Xocó e do Mocambo partilham relações de parentesco e uma história comum como sertanejos e vaqueiros. Eles sempre estiveram profundamente envolvidos uns na vida dos outros, e essa relação prosseguiu a despeito de terem revisado e recontado novas e velhas histórias de luta. Em outras palavras, pessoas que não se distinguiam de outros camponeses sertanejos tiveram sucesso ao reivindicar uma identidade indígena ou quilombola, obtendo o reconhecimento do governo e o direito à terra e deslocando os proprietários de terra da elite. Isso ocorreu a despeito de os antropólogos que avaliaram a validade de suas reivindicações reconhecerem que as identidades etnorraciais afirmadas eram “construídas”, o que demonstra que a “autenticidade” não é um requisito da identidade por definição. Em uma reviravolta incomum, a noção de que raça e etnicidade são construções sociais reforçou, e não solapou, as reivindicações de diferença do Xocó e do Mocambo (ver Clifford, 1988).
Por meio dos esforços governamentais em prol das comunidades indígenas e negras rurais, o Estado assumiu inadvertidamente o papel de instigador, se não de criador, de novas identidades indígenas e quilombolas. Admiti-lo não atrapalhou o andamento dos reconhecimentos e da redistribuição de terra. A autoidentificação como índio ou quilombola alimenta-se de narrativas históricas imbricadas com a solidariedade social forjada nas lutas recentes por reconhecimento e terra. Entretanto, o sucesso dessas lutas depende de leis que foram promulgadas para reconhecer – mas obtiveram sucesso em criar – minorias etnorraciais dotadas de direitos. As fronteiras desse processo foram moldadas pelas crescentes divisões políticas e diferenças culturais entre os índios xocó e os quilombolas do Mocambo, que se estabeleceram conforme cada grupo procurava afirmar sua unidade interna. Embora relações familiares e uma história comum conectem as duas comunidades, as especificidades da luta pela terra de cada grupo e as expectativas associadas a ser índio ou negro levaram-nas a se distinguir. Hoje as pessoas dessas duas comunidadies se veem como diferentes, mas relacionadas. A diferenciação é mantida principalmente por corpos de leis distintos, instituições governamentais diversas, diferenças políticas, competição por recursos e desentendimentos familiares.
As lutas sucessivas das comunidades do Xocó e do Mocambo são ideais para se considerar como essa diferenciação opera tanto na realidade quanto nas práticas discursivas e culturais das pessoas que assumiram e viveram essas novas identidades – em outras palavras, como a legalização das identidades opera para modificar sua experiência vivida. No Brasil, que aboliu a escravidão somente em 1888, camponeses descendentes de africanos e indígenas mantiveram relações próximas durante séculos. Foi apenas com a aprovação e aplicação das leis que essas descendências começaram a se desintrincar, por vezes com consequências imbricadas. Como demonstro nesta obra, a busca por justiça social envolve conflitos interpessoais, inimizades e alianças cambiantes, invenções e reinterpretações, além de contingências históricas.
As histórias aqui contadas e analisadas lançam luz sobre como pessoas que habitam um local relativamente isolado foram atores e criadores dessas histórias. Contudo, não se trata aqui apenas de histórias que revelam a lógica da transformação identitária em um contexto local. Mais do que isso, este livro investiga uma série de fenômenos que estão transformando o Brasil e o hemisfério ocidental. O continente americano foi assolado por movimentos por reconhecimento etnorracial e justiça redistributiva, muitos dos quais tiveram início na década de 1970. Os exemplos e explicações apresentados nesta obra elucidam um processo em curso em muitas partes do mundo em termos das relações entre direito, raça/etnicidade, desigualdade econômica e práticas culturais. Trata-se, portanto, não só de direito, identidade, direitos à terra e movimentos sociais, mas também da transformação da vida das pessoas e dos efeitos, ao longo de gerações, das mudanças de perspectivas ideológicas e do engajamento com novas leis. Conforme o reconhecimento da diferença cultural afirmada e a distribuição de terra e recursos adquirem proeminência na agenda de muitas nações no hemisfério ocidental como resultado de pressões vindas de cima e de baixo, a lógica dos direitos sobre a propriedade também se transforma. Por meio de uma nova conceitualização da “legalização das identidades”, podemos começar a compreender os processos colocados em movimento como parte da reação mundial à Guerra do Vietnã, à derrota dos Estados Unidos nessa guerra, à afirmação de direitos civis no primeiro mundo, aos regimes militares seguidos de redemocratização na América Latina, ao sucesso das lutas anticoloniais no terceiro mundo e à globalização de direitos. Conforme as demandas pela distribuição equitativa de terra e recursos ganharam força, elas passaram a ser refratadas através do prisma do reconhecimento identitário de índios e negros; assim surgiu uma nova forma de empoderamento, a partir da qual as pessoas passaram a ter voz sobre sua própria vida. O objetivo desta obra é compreender as fontes e os efeitos dessas lutas, seus sucessos e fracassos.
Tornar-se negro ou índio: a legalização das identidades no Nordeste brasileiro | Jan Hoffman French
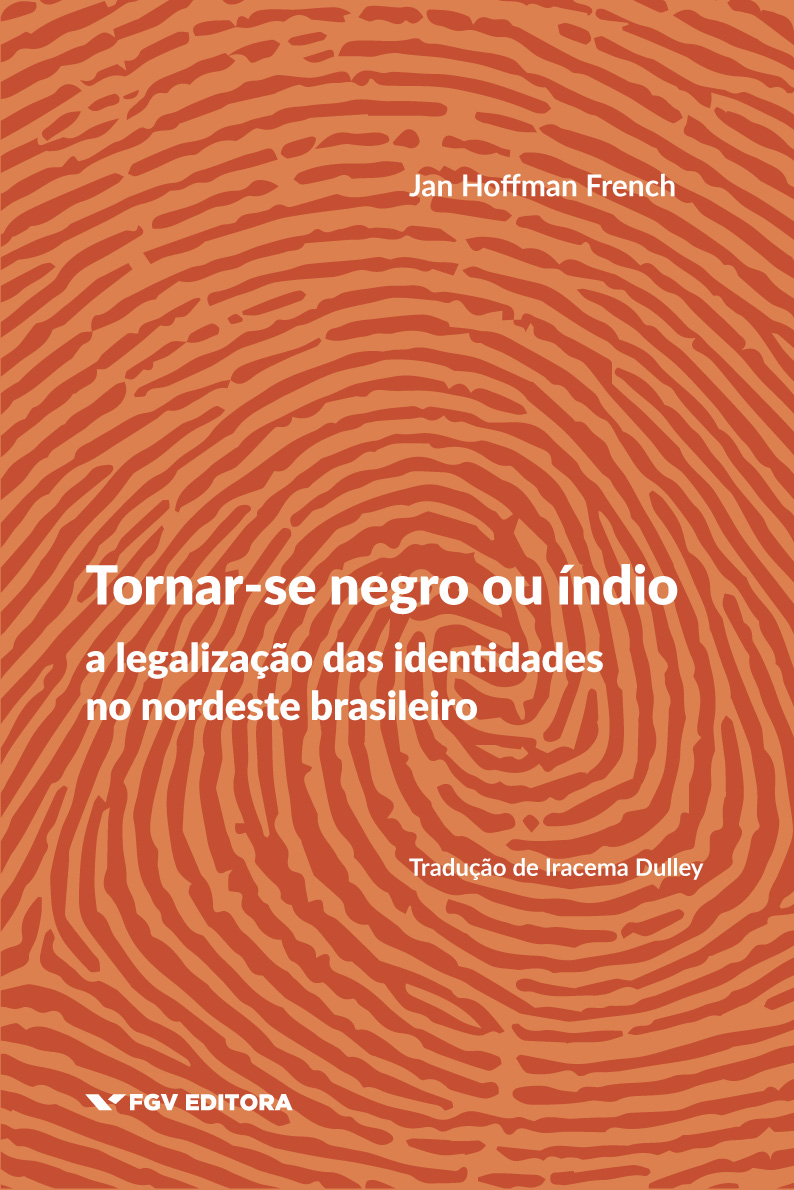

Comentar