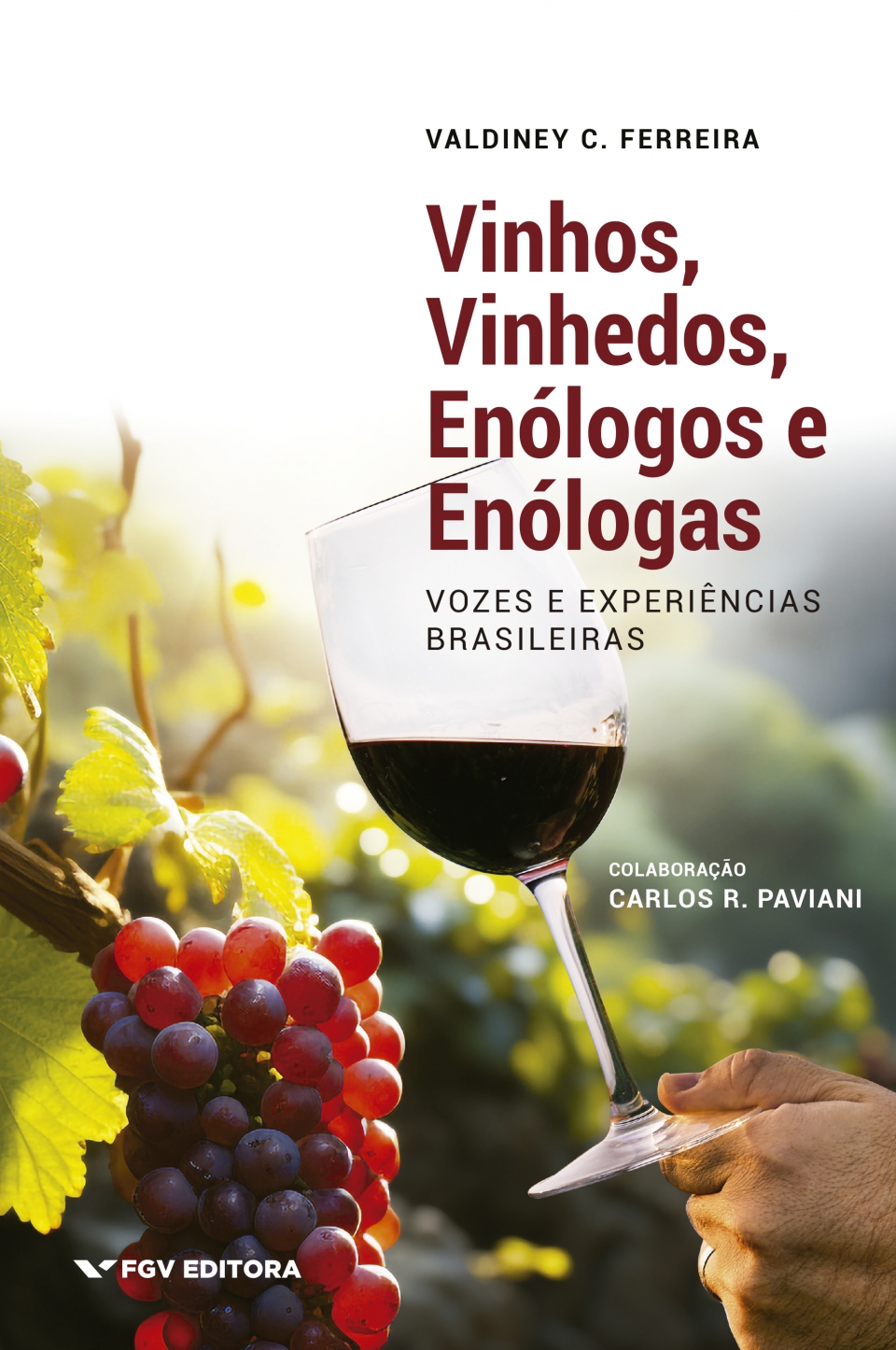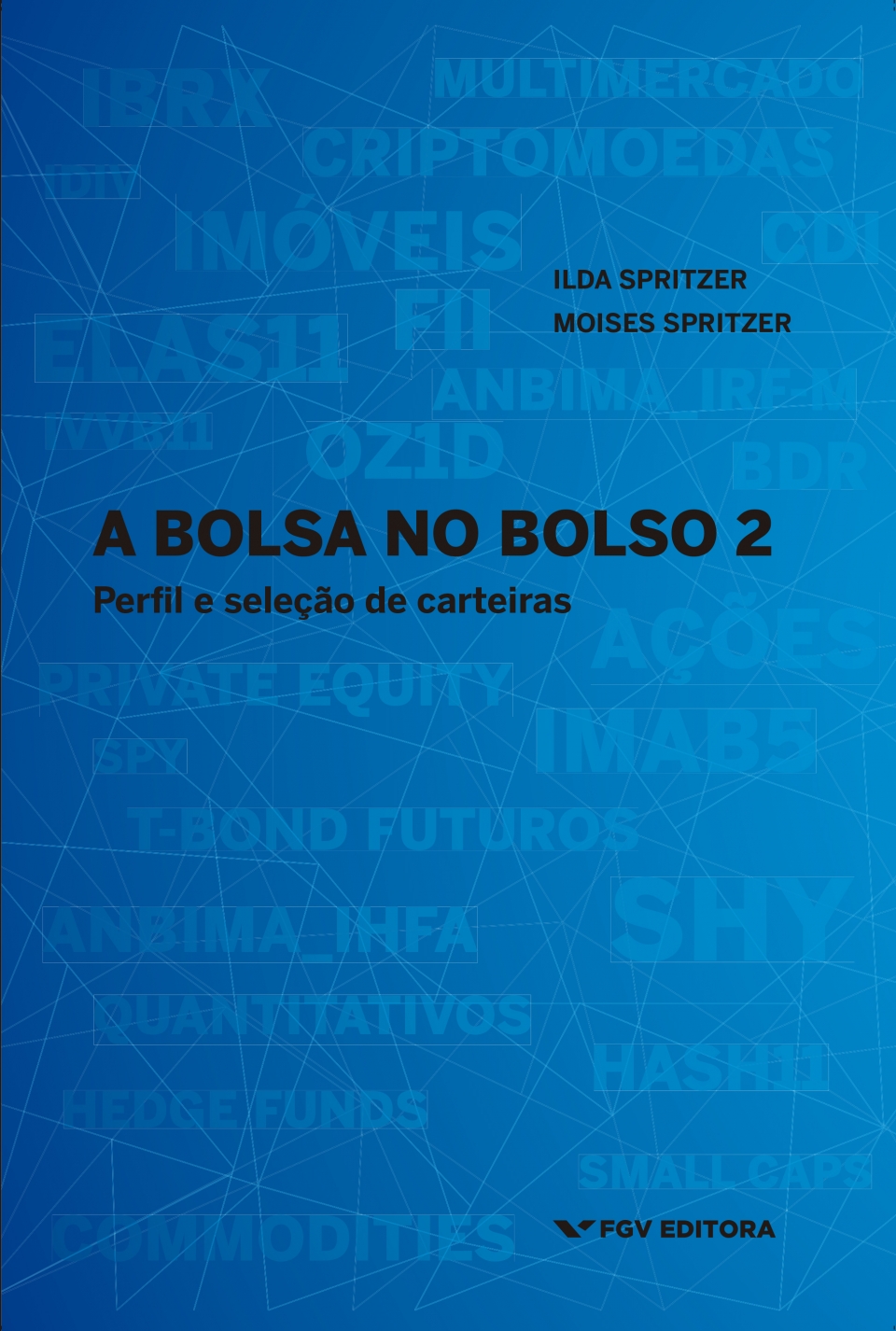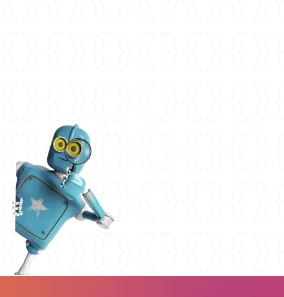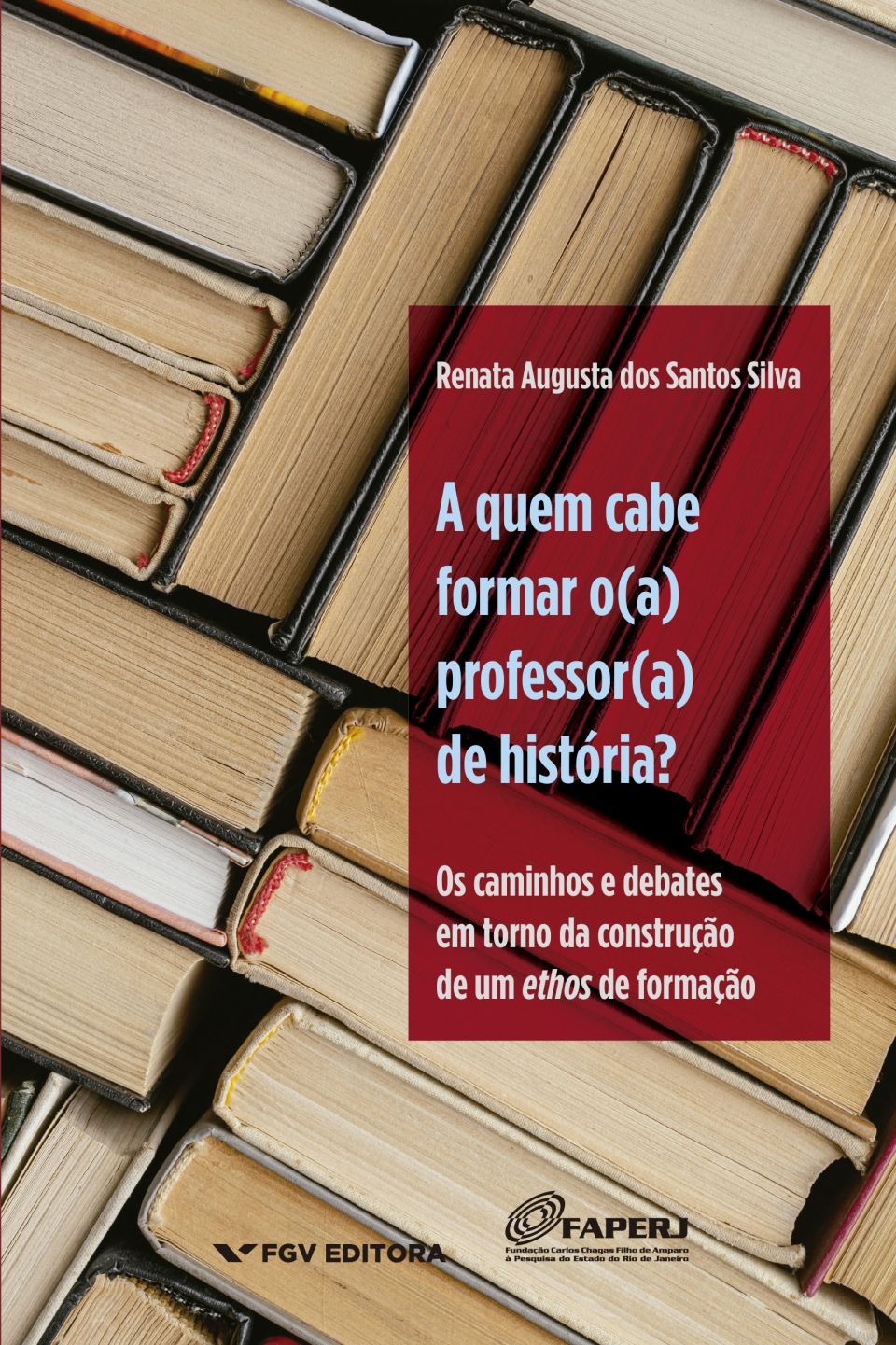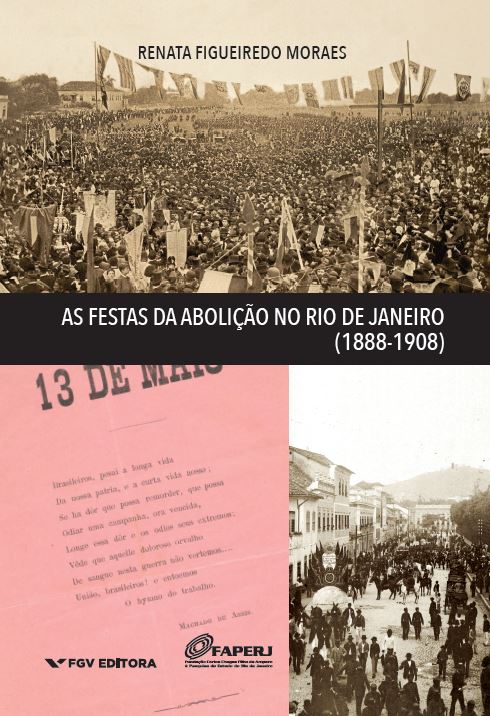As práticas de sustentabilidade são demandas fortes na atualidade, e aumenta continuamente o número de consumidores que querem encontrar em seus alimentos e bebidas, além de qualidade, saudabilidade e processos condizentes nas indústrias que os produzem. Especificamente na indústria da uva e do vinho, os termos natural, orgânico, biodinâmico, informados ou não através de selos de identificação, deixaram de ser raridades, mas atributos utilizados para despertar o interesse de compra.
A obra Vinhos, vinhedos, enólogos e enólogas: vozes e experiências brasileiras, de autoria de Valdiney C. Ferreira com colaboração de Carlos R. Paviani, traz as reflexões de profissionais experientes da vitivinicultura brasileira sobre os caminhos possíveis para a produção de vinhos de qualidade superior, competitivos e saudáveis, para serem consumidos com segurança.
Confira abaixo a apresentação da obra:
Na segunda década do século XXI, o que é preciso para um vinho ser reconhecido como de qualidade superior e se distinguir entre as centenas de milhares de rótulos disponíveis no mercado mundial? Não apresentar defeitos, mostrar equilíbrio e harmonia entre seus principias constituintes deixaram de ser atributos suficientes, mas obrigação básica. O que mais seria necessário? Que vá além sendo sustentável, expressando claramente sua identidade nos aromas e sabores, sendo fiel ao seu terroir e às castas de uvas que o compõem, além de expressar com nitidez o estilo da enóloga ou do enólogo que o elaborou.
Um consenso no mundo do vinho é que para se fazer grandes vinhos são imprescindíveis uvas Vitis viníferas corretamente maduras e sãs, com composição rica e equilibrada. Outro, é que os profissionais responsáveis por sua elaboração devem evitar intervenções excessivas e desnecessárias que alterem suas identidades, mas sem deixar de imprimir o estilo com suas assinaturas. Uma fronteira tênue que não pode ser ultrapassada se o objetivo for elaborar vinhos superiores, sutis e inesquecíveis.
Para a produção desses grandes vinhos é preciso que a viticultura e a vinicultura caminhem juntas. É responsabilidade das enólogas e dos enólogos conciliar esses dois mundos sem cair na armadilha do uso excessivo das modernas tecnologias e produtos disponíveis. Ao longo da história, a ciência os viabilizou e eles foram imprescindíveis para superar os enormes desafios das doenças e pragas que, em diferentes momentos, quase aniquilaram a indústria do vinho. Entretanto, seu uso não deve ultrapassar limites que tornem os vinhos pouco saudáveis e sem identidade com suas origens. Essa questão foi sem dúvida bastante abordada nas entrevistas realizadas com um grupo de importantes enólogas, enólogos e produtores atuantes no Brasil.
Com exceção de um empresário produtor, todos os demais entrevistados têm a mesma formação básica em enologia e viticultura, mas em suas evoluções profissionais seguiram trajetórias distintas, permitindo que fossem exploradas diferentes experiências vividas na indústria do vinho. Alguns se dedicaram à responsabilidade técnica na elaboração dos vinhos em uma vinícola, outros se tornaram consultores para diferentes projetos industriais ou agrícolas, empreendedoras e empreendedores à frente do seu próprio negócio, ou pesquisadoras, pesquisadores, professoras e professores em diferentes instituições que trabalham com a indústria vitivinícola. Explorar essas variadas experiências profissionais, ouvir o que pensam sobre as questões de sustentabilidade, segurança alimentar e como fazem uso das modernas tecnologias disponíveis estavam também entre nossos objetivos.
Outra questão abordada foi a utilização, nem sempre controlada e consciente, de diferentes produtos químicos na viticultura e vinicultura. Na produção das uvas, a utilização intensiva e indiscriminada de defensivos agrícolas não naturais, conhecidos como agrotóxicos, pesticidas, herbicidas ou produtos fitossanitários pode levar a contaminações indesejadas do solo, da água e a efeitos nocivos em espécies não alvos, como leveduras nativas e os próprios seres humanos, afetando não somente a microbiodiversidade dos solos dos vinhedos, mas da região. Na elaboração dos vinhos, o uso de produtos especializados em vinificação indicados para melhorar processos, definir estilos e aumentar a qualidade, como as leveduras industriais selecionadas, bactérias láticas, enzimas, nutrientes e protetores para as leveduras. É no processo de vinificação que ocorrem os maiores riscos de perda de identidade com as origens e castas utilizadas.
A indústria mundial e brasileira de vinhos finos vive, nas últimas décadas, seus melhores momentos, produzindo vinhos de grande qualidade para mercados cada vez mais competitivos e diversificados. Destacar-se no oceano de rótulos disponíveis não é nada trivial, mas é o maior desafio que se coloca para as enólogas e os enólogos. Fazer vinhos tecnicamente corretos é obrigação, mas elaborar vinhos diferenciados, distinguíveis e sustentáveis é a nova meta para contribuir efetivamente para o sucesso de marketing de uma marca.
Para uma visão melhor do assunto pesquisado, além das entrevistas, compõem o livro dois textos sobre a indústria do vinho. O primeiro traz uma síntese sobre momentos marcantes e desafiadores da história mundial do vinho. O segundo mostra um breve resumo de como surgiu a indústria do vinho no Brasil.
Vinhos, vinhedos, enólogos e enólogas – vozes e experiências brasileiras complementa a tríade iniciada com Vinhos do Brasil – do passado para o futuro, sobre a criação da indústria no país desde a chegada dos imigrantes italianos no último quarto do século XIX e Vinho & Mercado – fazendo negócios no Brasil, que discute a formação do mercado brasileiro de vinhos desde as últimas décadas do século XX. Em todos, a opção foi a utilização da metodologia de história oral, com a realização de entrevistas de caráter histórico e documental, que permitem construir um painel representativo e um poderoso instrumento de reflexão sobre o setor de vinhos no país.
Finalizando, agradeço aos depoentes – razão principal para a construção deste livro –, que de maneira construtiva e transparente concordaram em expressar suas convicções para o futuro da vitivinicultura brasileira.
Também agradeço ao Carlos Paviani, companheiro importante nessa jornada de entrevistas, que contribuiu com sua vasta experiência na indústria do vinho no Brasil.Valdiney C. Ferreira
O lançamento do livro será na ABS-Rio, dia 8/3/2024, às 18h30.
Conheça o livro clicando no link abaixo.
Vinhos, vinhedos, enólogos e enólogas: vozes e experiências brasileiras
Autor: Valdiney C. Ferreira