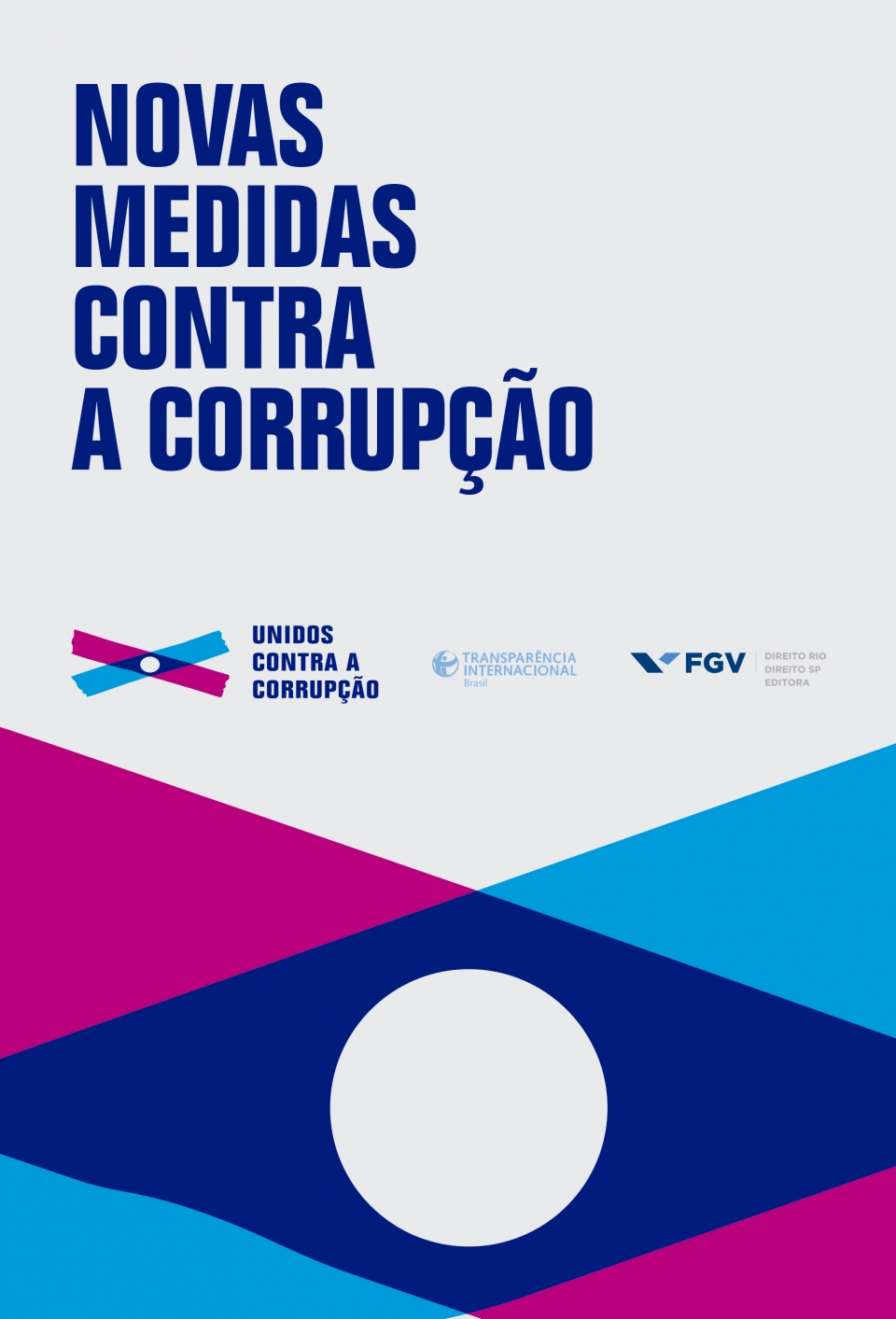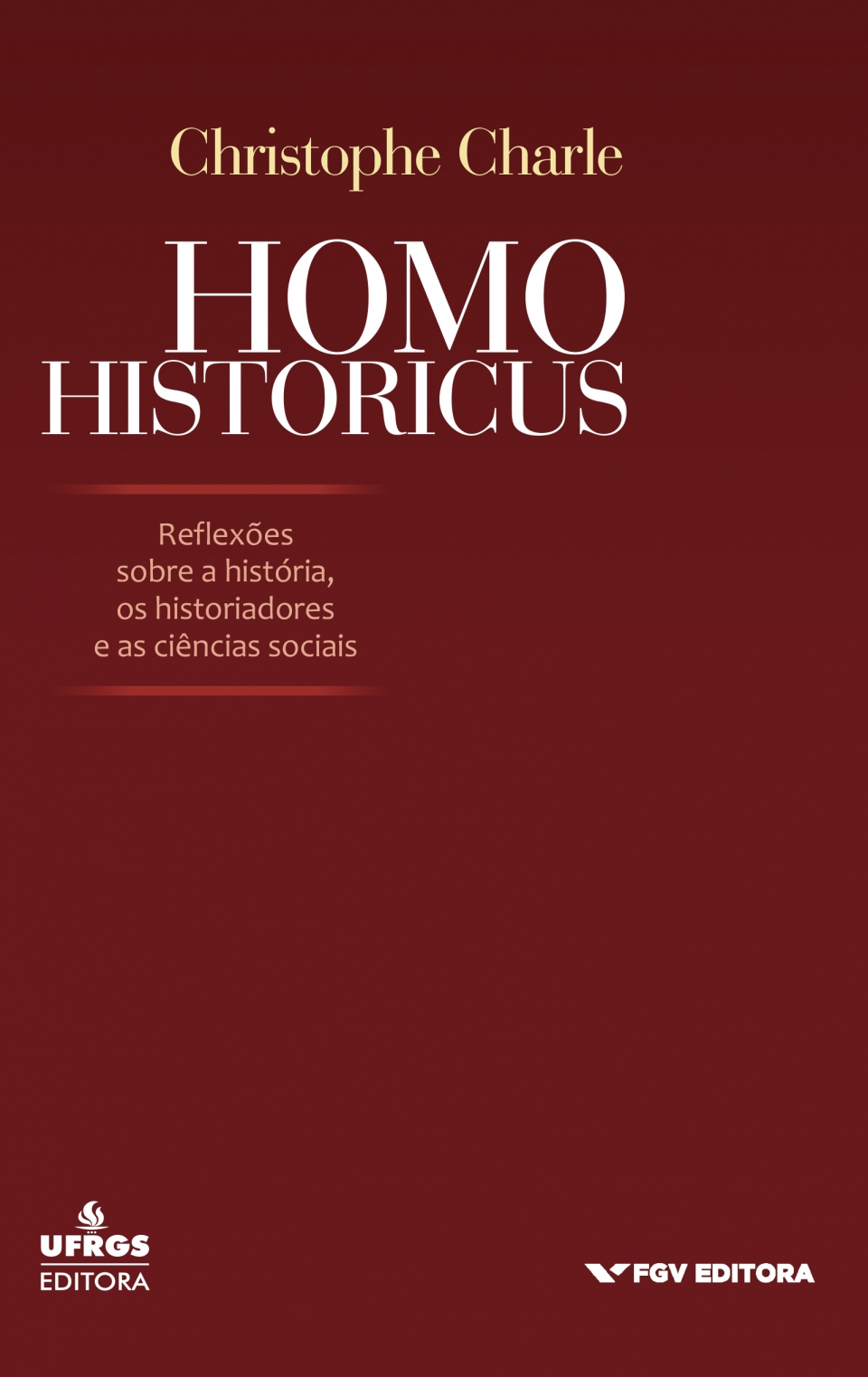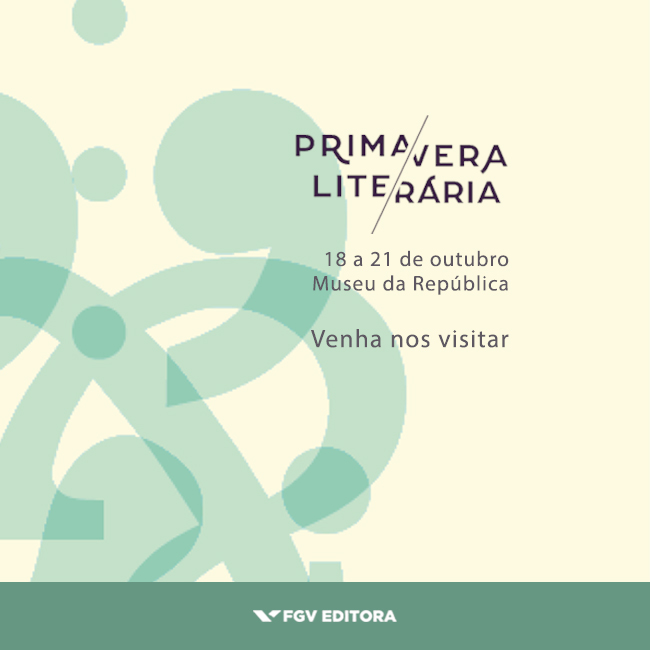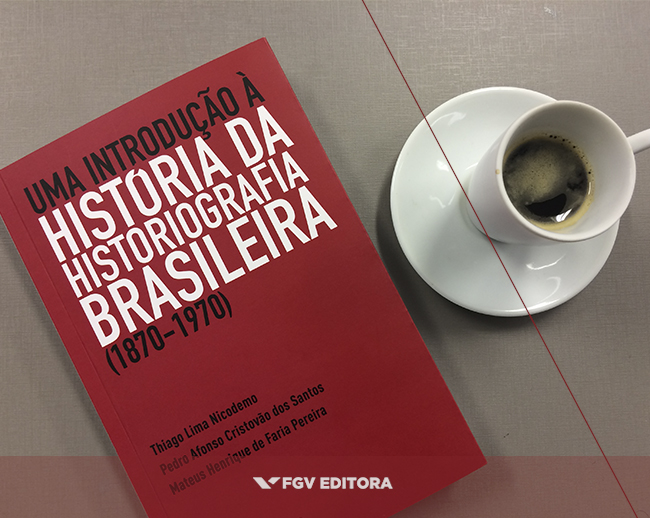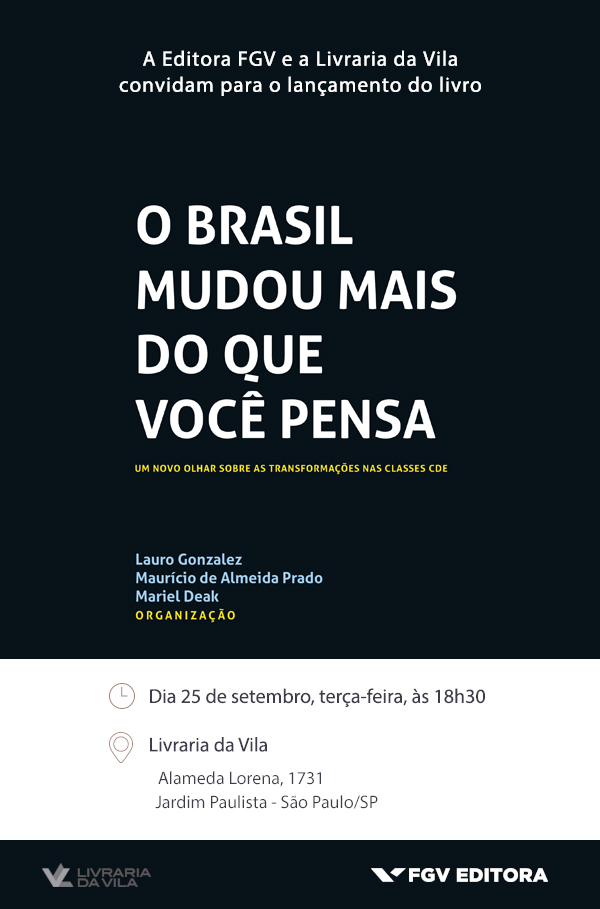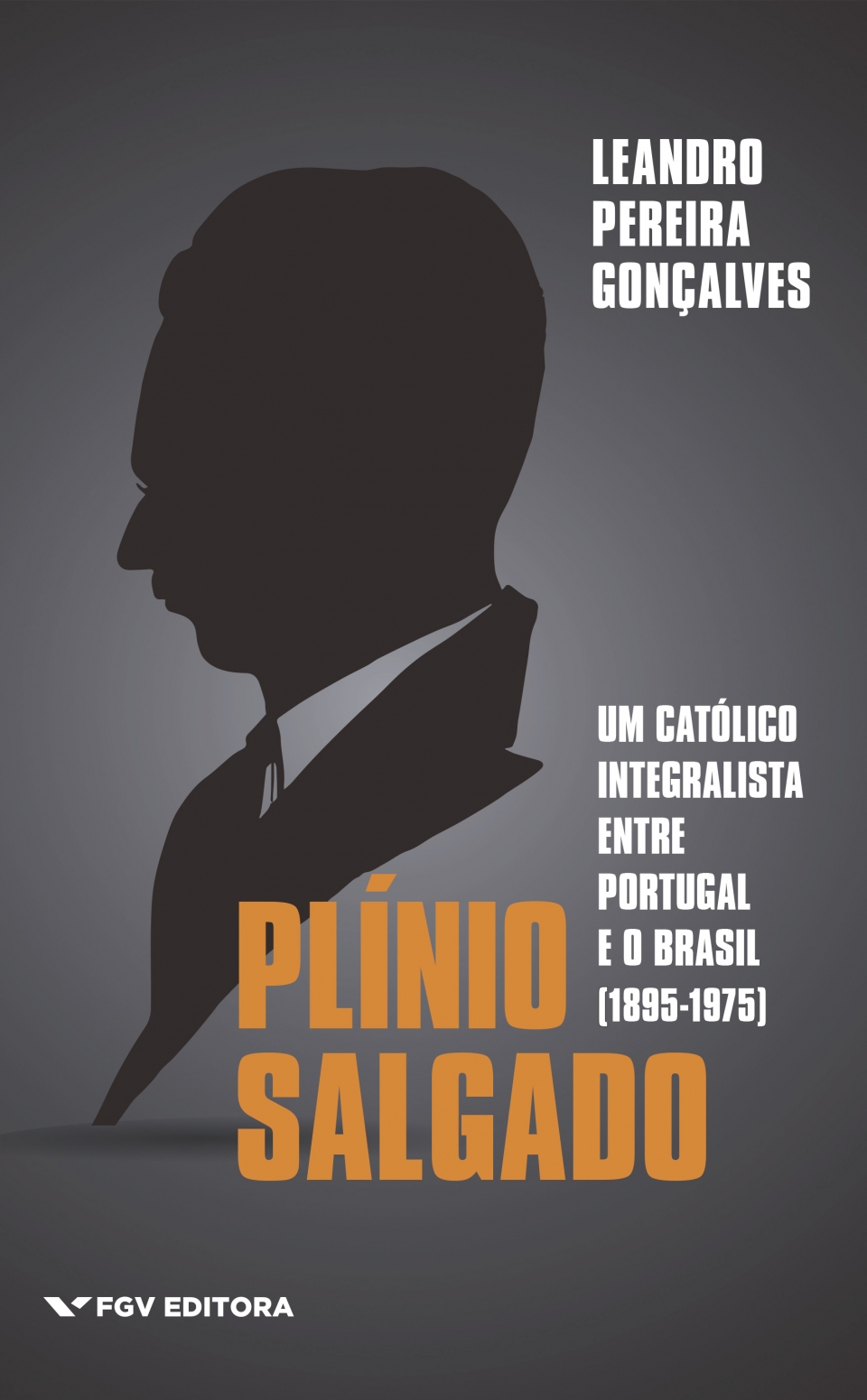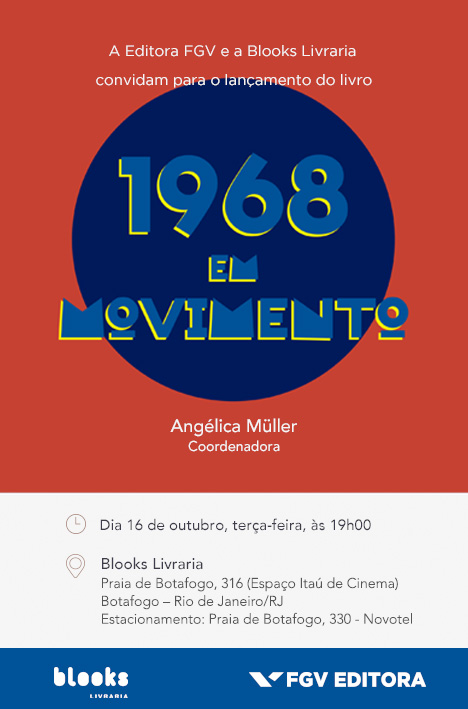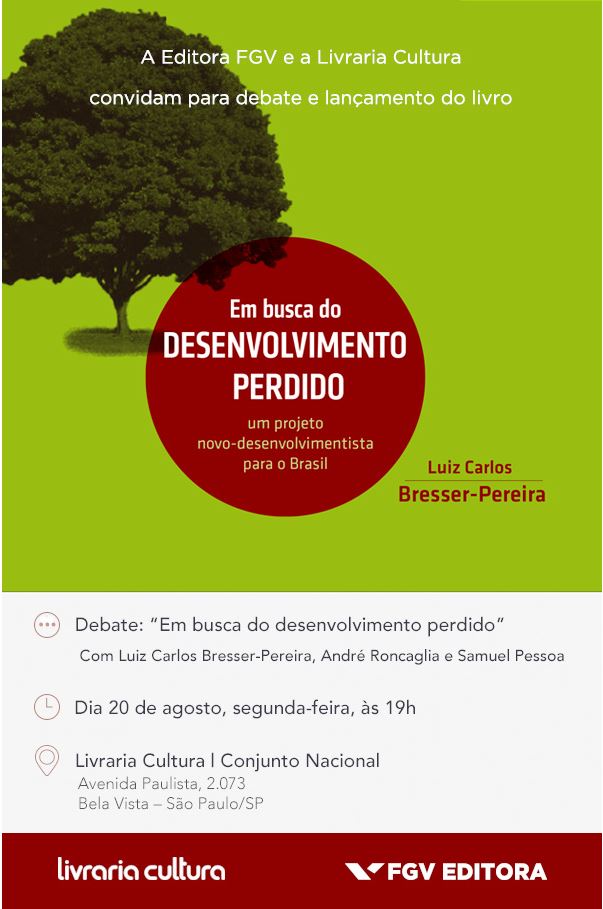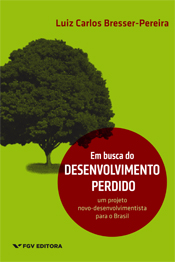A Primavera Literária do Rio acontecerá entre os dias 18 e 21 de outubro, de volta aos jardins do Museu da República.
Como todo ano, esta 18ª edição da feira terá uma programação cultural gratuita para seus visitantes e nós estaremos lá também.
E nesta edição, nossa participação está mais que especial.
Nossas autoras Hildete Pereira de Melo (Mulheres e poder), Glaucia Fraccaro (Os direitos das mulheres) e Angela de Castro Gomes (Trabalho escravo contemporâneo) estarão presentes na Tenda, dia 21, domingo, às 10h, para o bate-papo Mulheres no poder.
Após a conversa, todas poderão autografar seus livros no mesmo local.
É bom chegar cedo pra garantir seu exemplar em nosso estande e sua partipação nessa conversa.
Mais da programação pode ser conferida na página da LIBRE, no Facebook. Clique AQUI, que te mandamos pra lá ou confira tudinho mais abaixo.
O Museu do Palácio do Catete é aberto à visitação, possui uma praça de alimentação de bikefoods, restaurante e um bicicletário.
A feira é gratuita e a entrada do Museu fica em frente ao metrô do Catete.
Não dá pra não ir.
Levaremos cerca de 200 títulos do nosso catálogo, entre lançamentos e acervo, e todos estarão com 50% de desconto.
Esperamos sua visita!!
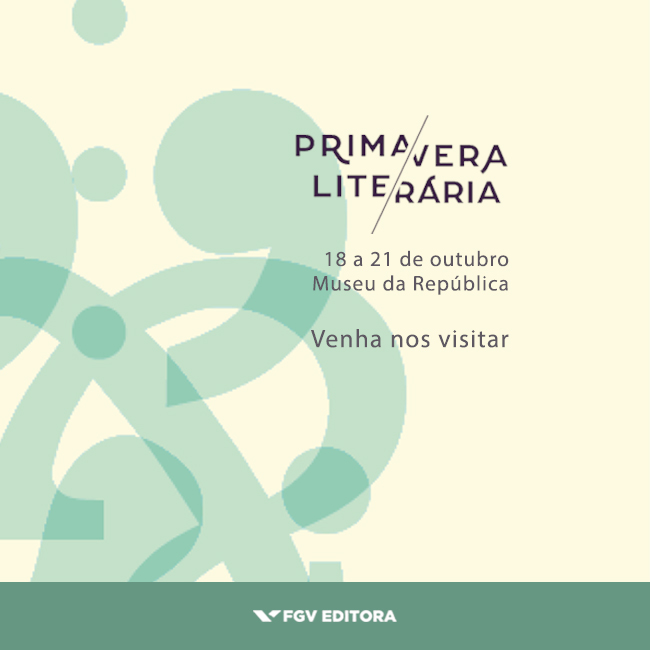
PROGRAMAÇÃO COMPLETA | PRIMAVERA LITERÁRIA 2018
ESPAÇO INFANTIL
QUINTA-FEIRA 18/10
11h Contação de histórias do livro Um pra cada lado e oficina de criatividade | Luciana Rigueira e Elizabeth Teixeira
14h Oficina Como nascem as histórias | Helena Lima Apresentação sobre processo criativo: como nascem as histórias e em que consiste o trabalho de uma editora. Programação complementada com contação de histórias.
15h Conversa sobre o livro Peixe de abril | Simone Mota || A história do pescador, do menino e dos peixes, mais particularmente o Peixe de abril, entre reinos e reis, seduz o leitor desde as primeiras linhas e o transporta para mundos feéricos de sabedoria e de ensinamentos. Simone Mota consegue condensar o máximo de informações num mínimo de espaço, técnica fundamental nesse gênero literário. O leitor é conduzido com habilidade e gênio para o "efeito do real", qualidades que fazem do Peixe de abril obra indispensável para apreciadores de literatura de todas as idades." (Godofredo de Oliveira Neto)"
SEXTA-FEIRA 19/10
10h Desafios da mediação da leitura literária hoje | Cíntia Barreto || Uma apresentação da formação em Literatura Infantil e Juvenio dos profissionais do livro no contexto atual e do impacto no mercado editorial no processo de formação de leitores.
11h Palestra Oralidade e contos africanos : Histórias de Ouvir da África Fabulosa | Carlos Alberto de Carvalho e Fabio Maciel || Em algum lugar da África, crianças ouvem fabulações, nas quais, humanos, animais e seres fantásticos fazem parte da narrativa.
14h Oficina de ilustrações do livro Histórias de ouvir da África fabulosa | Fabio Maciel || Trabalho sobre as ilustrações do livro Histórias de ouvir da África fabulosa.
15h Contação de histórias do livro Como tudo começou – A primeira aventura da Turma do Planeta Silvana Gontijo || A autora encanta as crianças ao apresentar seu livro Como tudo começou - A primeira aventura da Turma do Planeta de forma muito interativa consegue a participação de todos ao contar sobre a aventura do livro.
18h Bate Papo sobre o Livro "Bordados" Projeto MANOS QUE CUENTAN. Peru- Brasil Rosana Reategui. || A narradora peruana, Rosana Reategui, integrante do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias apresentará seu projeto de livros bordados junto com artesãs arpilleras: Manos que Cuentan. Livros de pano que contam histórias e lendas bordadas assim como falará das origens do bordado da arpillera, registros têxteis de diversas realidades latinoamericanas.
SÁBADO 20/10
10h Belé Salsicha | Contação de Histórias + Autógrafos || Autora Ana Sampaio ||| Ilustração Heitor Corrêa Contação de Histórias do livro Belé Salsicha: Belé é um cachorrinho com rodinhas no lugar das patas traseiras e nem se importa com isso. Ele é muito especial por ser um grande caçador de formigas e destruidor de chinelos. Aprenda com Belé como ser feliz e um arteiro tão amado.
11h É conversando que a gente se entende | Julia Luz || Bate papo sobre comunicação não violenta ||| Conversa, bate papo sobre Comunicação Não Violenta com a autora do livro "É conversando que a gente se entende".
14h Contação de histórias e sessão de autógrafos | Os 2 porquinhos e meio || Marta Lagarta ||| Ah, as diferenças! Elas podem se unir de maneiras tão mágicas. Será que um dia as pessoas perceberão isso? Neste texto delicioso, de poesia, sabores e imagens, Leo Cunha e Marta Lagarta contam uma divertida história sobre as desavenças entre dois vizinhos. Mas se a Dona Edy e o Seu Elias não se toleram, não podemos dizer o mesmo de seus porquinhos de estimação: Kid e Lik.
16h Representação negra na literatura infantil | Cássia Valle, Luciana Palmeira, Kenia Maria, Simone Motta, Mediação: Ernesto Xavier || Representação negra da literatura infantil. Bate-papo com autoras de livros infantis com personagens negros.
17h - Biodanza para crianças + Lançamento do livro Biodanza - um caminho para o mundo biocêntrico | Beatriz Câmara e Julia Rodrigues, Semente Editorial || Oficina que propõe uma prática através da dança e da música - conduzida por facilitadoras da metodologia Biodanza fundada por Rolando. Tem por objetivo fundamental valorizar e reforçar as qualidades mais belas do ser humano, que poderiam se expressar naturalmente na infância se o meio o permitisse.
18h Conversa sobre o livro Tempo de brincar Marília Pirillo O tempo de brincar e a infância estão ameaçados pela rotina estressante que estamos adotando para as nossas vidas e de nossas crianças. Acho fundamental termos um momento para rir, relaxar, sentir, desfrutar da vida e do mundo que nos cerca. Brincar é aprendizado, é experimentação, é descoberta. Brincar é jogar, ganhar, perder, recomeçar, fazer de conta, fantasiar, se encantar! Desenhar, ler, escrever e contar histórias também podem ser uma deliciosa brincadeira. Vamos brincar!"
DOMINGO 21/10
10h Aulão de Boxe Infantil | Professor Peppe || (a partir de 12 anos)
11h Contação de histórias do livro Um marido para Dona Baratinha | Autora Dircéa Damasceno || Dona Baratinha era vaidosa e caprichosa. No dia em que encontra uma moeda, se sente rica e sai em busca do noivo perfeito. Entre tantas qualidades e defeitos, será que ela vai encontrar seu par?
14h Primavera convida Clube de Leitura Quindim | Slam de ilustração Os participantes são desafiados, por meio de uma temática surpresa a criarem uma narrativa visual. Um ilustrador intervém no desenho do outro mudando o traço e o pensamento, criando uma história coletiva com diferentes olhares.
15h Cantação de Histórias Ana Clara das Vestes e Trio e Lançamento do Livro Dois dinossauros e uma duna imensa Ana Clara Vestes Ilustração Camilo Martins Semente Editorial || A magia escorrega mansamente no cenário quase lunar do sono. Embalados pelas histórias contadas pela mãe de Adnan, ele e os dinossaurinhos veem-se diante de uma montanha gigante, uma estrada a ser caminhada e vencida a cada noite.
16h #PapoComZero : uma campanha de diálogo inspirada no conto 'A fuga do zero' e Oficina de contação de histórias e brincadeiras com as Boconas | Ana Luiza Novis || A partir do projeto #PapoComZero, a psicóloga e terapeuta Ana Luiza Novis trabalha a comunicação e o diálogo.
17h Conversa sobre o livro A Princesa Maravilha ou de como uma ervilha incômoda Provocou um final feliz. Cristina Villaça "Escrevi esta história em formato de cordel para homenagear Sylvia Orthof, mestra imaginária de minhas viagens literárias. Escolhi a redondilha maior porque quis seguir sua intenção de perpetuar a forma tradicional dos cantadores do nordeste e todo um manancial cultural que não pode ser esquecido. A minha Princesa Maravilha é parente de Ervilina, ambas descendentes da Princesa do conto de Andersen. Mas, como a Ervilina de Sylvia, ela é protagonista de sua história, é ela quem decide seu destino. Maravilha chega nessas páginas para ressaltar minha crença na educação e nos estudos avançados.
18h Bate-papo Não Somos Anjinhos com Gusti Rosemffet Apresentação do livro Não Somos Anjinhos, seus processo de criação, tradução, edição. O livro, originalmente publicado pela editora Oceanos - Mexico/ Barcelona, acabou de ser selecionado para a prestigiosa lista WHITE RAVENS, da Biblioteca Internacional da Juventude, de Munique. Roda de conversa com Gusti, autor que vem de Barcelona lançar seu recente livro ―Não Somos Anjinhos‖, sobre suas motivações e processo de criação desse livro ilustrado, inspirado pela vida cotidiana em família, no convívio com seu filho que tem síndrome de Down.
ESPAÇO EDUCATIVO
QUINTA 18/10
Programação Especial Dia do Editor
9h Café da Manhã
10h Panorama: Cenário do mercado editorial brasileiro | Ismael Borges – Nielsen || Apresentação de um panorama sobre o mercao editorial brasieliro, sob a perspectiva da Nilsen.
11h Revolução 4.0 - Economia em rede | Raíssa Pena - Catarse || Carolina Herszenhut – Aborda ||| Apresentação de cases sobre empreendedorismo criativo e a importância das microcomunidades para o fortalecimento das marcas.
14h Internacionalização e seus processos | Bia Alves – HarperCollins || A Gerente de internacionalização da HaperColins fala sobre sua expeiência na área na América Latina
15h Painel Forma Certa | Apresentação das soluções e inovação em impressão digital.
15h30 Workshop Como fazer para vender seu livro ainda em 2018 | Bruno Mendes – Coisa de Livreiro || Um workshop para os editores observarem como algumas medidas e novações podem aumentar o faturamento ainda nos meses faltantes para findar 2018.
17h Pega na minha mão e vem | Simei Jr. – Metabooks || Camila Cabete – Kobo ||| Um passo a passo para ensinar o mercado a fazer um bom preenchimento de metadados e seus benefícios para o gaturamente e organização das editoras.
18h O livro e o licenciamento | Mariana Rolier - HarperCollins, Sintia Mattar – Trevisan Mattar Consultoria Jurídica, Eduardo Albano - Ubook, Janaina Ávila Brasil - Produtora outrastorias, Mediação Cassia Carrenho – Lab Pub || Uma roda de conversa sobre licenciamento de livros para outras mídias.
SEXTA-FEIRA 19/10
10h Workshop de autopublicação e pitch para autores independentes Plataforma Bibliomundi e Palestrantes convidados | Seja autor da sua própria história. Pitch aberto para escritores de todos os gêneros. Apresente sua ideia para profissionais do mercado. Prêmio para o vencedor do pitching: Consultoria grátis com a Bibliomundi para publicação digital do livro.
11h30 Oficina de escrita Oulipiana | Ana de Alencar e Ana Lúcia Moraes | Palestra de Ana de Alencar sobre o grupo literário francês OULIPO e sobre a literatura potencial, seguida de uma oficina de escrita — com a participação da professora e doutora em literatura francesa, Ana Lúcia Moraes — baseada nos princípios oulipianos.
14h Oficina de formação de contadores de histórias e mediadores de leitura | Francisco Gregório || Oficina de formação de contadores de histórias, mediadores de leitura, e formação do leitor através de "Ler e Contar, Contar e Ler", em rodas de leitura e leitura dramatizada.
15h30 Mini Curso: Como escrever boa ficção fantástica, sagas e trilogias | Julio Algaze Mansour e Ilmar Penna Marinho Júnior Como escrever boa ficção fantástica, sagas e trilogias
17h Literatura e Fantasia | Juva Batella, Miguel Conde || Quarteto mágico – quatro formas de ser estranho Formas de ser estranho – Num país em que o valor da criação literária é muitas vezes medido em relação a sua capacidade de denunciar mazelas sociais, qual o lugar de autores que exploram em suas obras o devaneio e a fantasia, às vezes chegando até o non-sense? À margem da escrita realista de crítica social, seria possível falar numa tradição alternativa na história literária brasileira, mais afeita ao estranho e ao improvável do que à concretude do real? Os críticos Juva Batella e Miguel Conde conversam nesta mesa sobre alguns autores que poderiam integrar uma tal tradição, tais como Murilo Rubião, José J. Veiga, Campos de Carvalho e Victor Giudice.
18h30 Marcos Legais para formar leitores | Renata Costa, Guilherme Relvas, Francisco Gregório, Mediação: Volnei Canônica || A sanção da Lei Castilho e a discussão acerca da regulamentação do mercado do livro são os temas desta conversa que vislumbra refletir sobre a necessidade de políticas publicas para formar leitores e fortalecer o setor livreiro.
SÁBADO 20/10
10h Primavera Convida Puxadinho | Carol Delgado || Puxadinho, um lab de experimentações antropológicas, com metodologias e preços acessíveis, que tem seu foco na instrumentalização e democratização da produção simbólica, e atua em três frentes: uma escola livre e ateliê de pesquisa, mentoring para movimentos, projetos e pessoas e consultoria criativa.
14h Pitch do livro: como seduzir editoras com o seu original | Vagner Amaro, Paula Cajaty, Valéria Martins, Michelle Strzoda || Como seduzir editoras com o seu original: o olhar do mercado editorial.
16h Primavera convida Revista Philos | Oficina de escrita poética || Thássio Ferreira ||| Diante da moldura vazada colocada no jardim, o facilitador estimula os/as participantes a escreverem de forma poética sobre a paisagem, demonstrando possibilidades de construção de escrita criativa a partir de obras de autores/as clássicos/as e contemporâneos.
17h Primavera Convida Agência ONZE - UVA | Economia Criativa: As potencialidades do Rio como Cidade Criativa Leonardo Amato Marcos Machado Vera Zunino || A Economia Criativa propõe um novo olhar sobre como integrar pessoas e cidades, gerando novos caminhos para o desenvolvimento sustentável através das potencialidades criativas. O encontro irá analisar a economia criativa na Cidade do Rio de Janeiro através de estudos envolvendo equipamentos públicos, a arte e o carnaval.
18h30 Workshop: Vamos viajar? O que você precisa saber para se tornar um viajante | Claudia Liechavicius || Claudia Liechavicius é uma apaixonada pelo mundo. Além de ser uma especialista em todo tipo de viagem e destino. Desde 2008 comanda o Viajar pelo mundo!, Um dos sites mais populares da blogosfera, com cerca de um milhão de visualizações por mês. E depois de uma década compartilhando suas viagens e ouvindo os desejos de seus seguidores, escreveu um livro para mostrar que o mundo também pode ser o seu quintal.
DOMINGO 21/10
10h Literatura e Astrologia: alguns encontros | Roberta Ferraz
11h30 O poder dos nutrientes Dr. Raimundo Santos || Palestra do Dr. Raimundo Santos, médico e tradutor do livro "O poder dos nutrientes", escrito pelo médico norte-americano dr. William Walsh, que defende o uso da bioquímica natural em substituição aos remédios psiquiátricos no tratamento de distúrbios mentais. Com milhares de exemplares vendidos em outros países, o trabalho do dr. William Walsh abre uma nova porta para o tratamento da saúde mental, incluindo deficit de atenção, ansiedade, esquizofrenia, hiperatividade, doença de Alzheimer e outros.
14h Oficina de autobiografia | Tania Carvalho Apresentação de experiências, técnicas e inspiração para ajudar o leitor a virar escritor de sua própria história.
15h30 Nuvens e Bigornas - a poesia de Hilda Machado e Yasmin Nigri | Cide Piquet, Yasmin Nigri, A jovem poeta carioca Yasmin Nigri e o editor Cide Piquet conversam sobre os livros Bigornas, de autoria de Yasmin, e Nuvens, da poeta Hilda Machado, falecida em 2007, explorando afinidades nas obras dessas duas poetas de diferentes gerações, ambas fortemente imagéticas e influenciadas pelas artes visuais.
17h Bate Papo Carolina Maria de Jesus - uma biografia Tom Farias Bate-papo sobre a atualidade da obra de Carolina Maria de Jesus
TENDA FAÇA AMOR, NÃO FAÇA GUERRA
QUINTA 18/10
10h Primavera Convida Nespe | Workshop: 3 ou 4 coisinhas sobre técnicas de escrita criativa || Leandro Müller, Flávia Iriarte ||| Os criadores do curso de Escrita criativa do Nespe (Núcleo de Estratégias e Políticas Editoriais) apresentam ao público algumas técnicas para ser escritor.
14h Ocupa Museu - Políticas Públicas e Direito à Memória | Ana Paula Zaquieu Álvaro Marins Aline Montenegro A importância de um projeto de Estado em relação ao direito à memória no que tange a politicas publicas para a área de museus.
15h30 Reconstruindo as bibliotecas | Andreia Rangel Verônica Lessa || Conversa sobre o papel da biblioteca como agente de transformação social, com base nos ODS da agenda 2030 e no plano de trabalho proposto pelo programa Conecta Biblioteca, uma iniciativa implementada pela ONG Recode e patrocinada pela Fundação Bill&Melinda Gates. De que forma a biblioteca poderia também incidir sobre indicadores ligados, por exemplo, a desemprego e à saúde da comunidade local? Apresentaremos também cases bem-sucedidos de atividades, realizadas nas bibliotecas do Conecta Biblioteca, pautadas pela agenda 2030.
17h Narrativas indígenas: produção cultural de resistência | Eliane Potiguara || A produção cultural indígena em festivais de literatura
18h30 Poesia e paisagem | Michel Collot, Masé Lemos, Marcelo Reis de Melo || Uma conversa sobre produção de poesia contemporâena à luz da teoria da paisagem. Como a paisagem se apresenta nos textos do autores contempoâneos? Qual o papel da emoção na criação de uma obra? O que sefala quando se falar em inspiração, emoção, paisagem e técnica?
SEXTA-FEIRA 19/10
10h Workshop: Life Coaching | Claudia Guimarães || Dicas para uma vida mais harmonizada, através de um percurso que vai desde autoconhecimento, reconhecimento da própria história, autocompaixão e compaixão até cuidados com o corpo e com a nossa alma. Depois, abriremos para uma roda de conversa com o público presente.
11h30 A Formação do Jornalista 2.0 Agência ONZE – UVA Renata Feital | Refletir sobre a profissão de jornalista diante dos novos cenários políticos, sociais e culturais. A palestra versará sobre o papel social do jornalista nas sociedades democráticas, focalizando as transformações do know-how jornalístico. Dessa forma será realizado um debate sobre a profissão jornalista, seguindo um itinerário desde o marco da sua institucionalização até hoje, além de contemplar as mudanças nas rotinas de produção, em níveis econômicos, políticos e editoriais, que impactaram os jornalistas brasileiros. O ensino do Jornalismo nas universidades e por fim, a reflexão contempla a identidade jornalista e o seu papel social no atual ambiente informatizado.
14h Primavera Convida MultiRio | Roda de Conversa sobre o livro Animação Brasileira: 100 filmes essenciais produzido pela ABRACCINE e a Associação Brasileira de Cinema de Animação, entre outros, e lançado pelo Grupo Editoral Letramento.
15h30 Ativismo jovem | Coletivo Papo Reto, Slam das Minas, Coletivo Ocupa Amaro, Mediação Ywerson Pimentel || Bate papo com jovens que estão interferindo em seus meios sociais e dando visibilidade a diferentes narrativas por meio de dispositivos como a arte, tecnologia e ativismo político.
17h Linguagens poéticas e ativismo antidiscriminatório Ramon Nunes Mello Paulo Sabino | Simone Mazzer || Como a arte pode mitigar preconceitos e sensibilizar para temas sobre os quais ainda pouco se fala.
18h30 Até onde pode o judiciário? | Ricardo Lísias, Wadih Damous || Discussão acerca das liminares concedidas pelo desembargador Rogerio Favreto a partir do novo livro de Ricardo Lisias Sem título – uma performance contra Sergio Moro, à luz do Direito. Análise dos diversos acontecimentos recentes da sociedade brasileira.
SÁBADO 20/10
10h Carreira de autor | Alessandro Thomé, Janda Montenegro, Thássio Ferreira || Mesa sobre o papel do autor na costrução de sua carreira. Venda de livros, autopromoção, agenciamento e prêmios serão algus dos temas.
11h30 Brasilidades Luis Antonio Simas Marcelo Moutinho | Um inventário do Brasil popular pelas lentes de Luiz Antonio Simas e Marcelo Moutinho. Entram na roda personagens, literatura, ritmos, conflitos, etnias, festas da fé, saberes e fazeres dos brasileiros.
14h Tabu na literatura | Andrea Viviana Taubman, Alessandro Thomé, Fátima Pacheco || Tristeza, separação, morte, violência, abuso sexual. Como falar sobre esses assuntos difíceis para os adultos com as crianças. Há temas-tabu a serem evitados na literatura infantil e juvenil? Para muitos pais, educadores e mediadores de leitura que pensam para além da simples fruição, a literatura pode ser sim um caminho para provocar nas crianças reflexão sobre situações difíceis ou de risco, de uma maneira lúdica e não simplista.
15h30 Primavera convida Quatro Cinco Um Raquel Menezes Antonio Freitas | Mediação Fernanda Diamant || Bate papo sobre mercado editorial independente, jornalismo e ativismo cultural a partir das experiências da Libre, da Tapera Taperá e da Quatro Cinco Um.
17h 1968: 50 anos depois | Ítalo Moriconi, Eduardo Jardim || Os movimentos de 1968 e aqueles que dele derivaram serão o fio condutor do bate-papo, utilizando outros ângulos de observação e perspectivas sobre o momento e sua época. A ideia é trazer novos enfoques para alguns eventos bastante, e outros muito pouco, conhecidos, com atenção às reações, aos desdobramentos e heranças que aqueles eventos suscitaram no e ao longo do tempo. Exatamente no mês outubro de 2018, o foco das comemorações dos 40 anos estará sobre a queda de Ibiúna, e este momento será abordado no bate-papo, bem como as comparações com os eventos de 2013.
18h30 Os diários na literatura Felipe Charbel Kelvin Falcão Klein Conversa entre Felipe Charbel (autor de "Janelas irreais - um diário de releituras", Relicário, 2018) e o crítico Kelvin Falcão Klein (autor de "Wilcock. Ficção e arquivo", Páginas Selvagens, 2018) sobre diários de escritores, e sobre romances escritos em diários.
DOMINGO 21/10
10h Mesa Mulheres no Poder | Hildete Pereira de Melo (Mulheres e Poder), Glaucia Faccaro (Os direitos das mulheres), Angela de Castro Gomes (Trabalho escravo contemporâneo), Maria Claudia Badan Ribeiro || Por que as mulheres não ocupam as chefias de empresas? Por que ganham salários menores que o dos homens? Por que há tão poucas deputadas? Bate papo sobre a importância de ter mais mulheres ocupando cargos de poder e sobre as barreiras que elas enfrentam.
11h30 Mulheres Negras na Literatura | Conceição Evaristo, Paloma Franca Amorim, Eliana Alves Cruz, Teresa Cárdenas
14h Publique Sexo | Bella Prudencio, Ara Nogueira Seane Melo, Camila Cabete | Mediação: Cassia Carrenho || Discussão sobre o feminismo e o corpo da mulher a partir de publicações cujo sexo é o eixo central e o modo se libertar do patriarcado. A partir de lemas como ―Meu corpo, minhas regras‖ as mulheresm se empoderam e assumem esapço na sociaedade.
15h30 Reflete o feminino por que o feminino importa Palmira Margarida Helena D’Aradia Mediação: Crib Tanaka
17h Primavera Convida Mulheres que Escrevem | Escritas Híbridas || Leticia Novaes, Dara Bandeira, Estela Rosa Mediação: Tais Bravo ||| Conversa com autoras sobre escritas híbridas que escapam de um único gênero.
18h30 Mulheres do Funk | Verônica Costa, Adriana Facina, Taísa Machado, Ingrid Neponucemo || Mediação: Carol Rodriguez ||| Sexualidade, objetificação do corpo, visibilidade. O Funk como movimento de expressão de mulheres negras e periféricas.
ESPAÇO LANÇAMENTOS
SEXTA-FEIRA 19/10
15h Arte dos contos
Vários autores
MultiRio e Secretaria Municipal de Educação
16h Marx e a História
Gustavo Machado
Editora Sundermann
17h Por que não escrevi nenhum de meus livros
Marcel Bénabou
Tradução: Ana de Alencar Editora TABLA
18h Guardados do Coração
Franciso Gregório
Semente Editorial
SÁBADO 20/10
13h Itinerários
Autor Thássio Ferreira
UFPR
14h Lançamento Coletivo Ibis Libris
Editora Ibis Libris
15h Caveiras
Bate papo + autógrafos
Autor Victor Abdala
Editora Évora
16h Não me toca, seu boboca
Autora Andrea Viviana Taubman
Ilustrações Thais Linhares
Editora Aletria
17h Contos de encantar o céu
Bate papo + autógrafos
Autoras Helena Lima
Ângela Leite de Souza
Ana Luiza Figueiredo Editora Lago de Histórias
18h Amores Desvalidos
Autor Rogério Athayde
Editora Oficina Raquel
DOMINGO 21/10
11h30 | Hildete Pereira de Melo, Glaucia Fraccaro e Angela de Castro Gomes augrafam seus respectivos livros após a mesa 'Mulheres no poder'
15h O som de um coração vazio
Bate Papo + Autógrafos
Autora Graciela Mayrink
Editora Bambolê
16h Sebastian
Autora Bella Prudencio
Editora Oficina Raquel
17h Lançamento coletivo de autores independentes
18h Sexo a três
Autor Vinni Corrêa
Editora Jaguatirica
CINEMA
SEXTA-FEIRA 19/10
11h às 17h Ocupação Cineclubista Cine&Manas
Cineclube produzido pelo Coletivo Manas, com exibição de filmes sobre feminilidade, trazendo o debate sobre gênero, identidade e sustentabilidade feminina.
SÁBADO 20/10
11 ás 16h Ocupação Cineclubista MultiRio - Animação Brasileira: 100 filmes essenciais
Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, apresenta filmes do livro Animação Brasileira, 100 filmes essenciais.
DOMINGO 21/10
10 ás 11h30 – Aulão ENEM Parte I
11h30 h às 17h Ocupação Cineclubista Subúrbio em Transe
O coletivo Subúrbio em Transe, organizado por Luiz Claudio Motta, promove atividades culturais espalhadas por bairros do subúrbio com o objetivo de retratar e debater o subúrbio como paisagem e lugar.
14 às 15h30 – Aulão ENEM Parte II
Nome do professor
CHAFARIZ - OCUPAÇÕES ARTÍSTICAS
QUINTA-FEIRA 18/10
19h Dj Nado
SEXTA-FEIRA 19/10
19h Slam das Minas
SÁBADO 20/10
15h Palestra + Prática de meditação transcendental | Valéria Portugal, Professor Aloísio Reis Nunes | Valéria Portugal , autora do título: Olhando para dentro (Editora Gryphus). Estará com o professor convidado: Aloisio Reis Júnior, no dia 20/10/2018 horário 15:00 as 16:00hs abordando o temas: Criatividade e Meditação Transcendental. Ao término da palestra, o professor Aloisio estará aplicando a prática de Meditação Transcendental no local.
16h Juventude-raiz: histórias do Norte brasileiro | Leão Zagury, Anatole Jelihovschi Leão Zagury apresenta as reminiscências da infância e da juventude, passadas em Macapá, tem uma pegada a la Gabriel García Márquez. O livro é muito bem escrito e ganhou prefácio do Cláudio Murilo Leal, que é da ABL. Anatole Jelihovschi, em romance dramatizado, compara a vida do protagonista Salvador ao de Lampião, em uma narrativa que explora ―uma multidão de despojados encerrados num inferno coletivo‖, seja no sertão do passado, seja no ambiente urbano do presente, um entrelace entre tempos, chegando a um ponto onde o passado se funde ao presente, unindo o real ao fantástico.
17h 12º Festival de Poesia da Primavera Literária
Tradicional Sarau de poesia da Primavera Literária realizdo pela Editora Ibis Libris
18h Bloco Cartola é do Catete
DOMINGO 21/10
16:30 Performance Poética com Ara Nogueira
17h Leitura dramatizada do Livro Sexo a Três com Vinni Corrêa

Até 2019!!