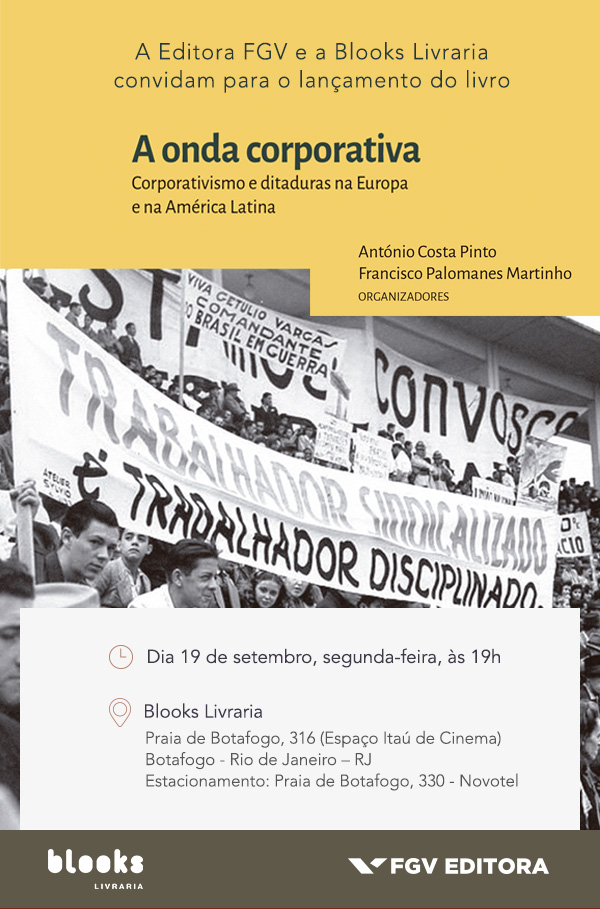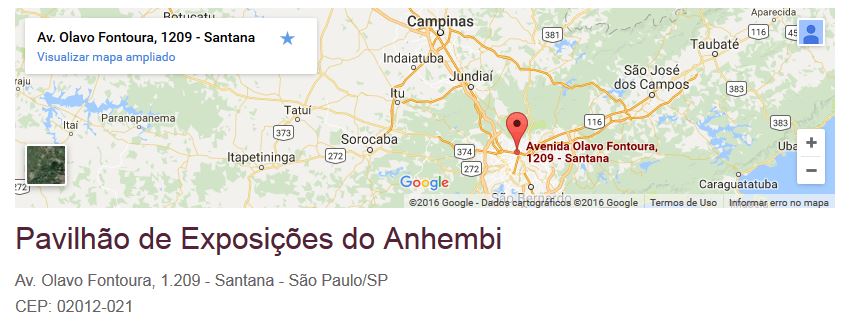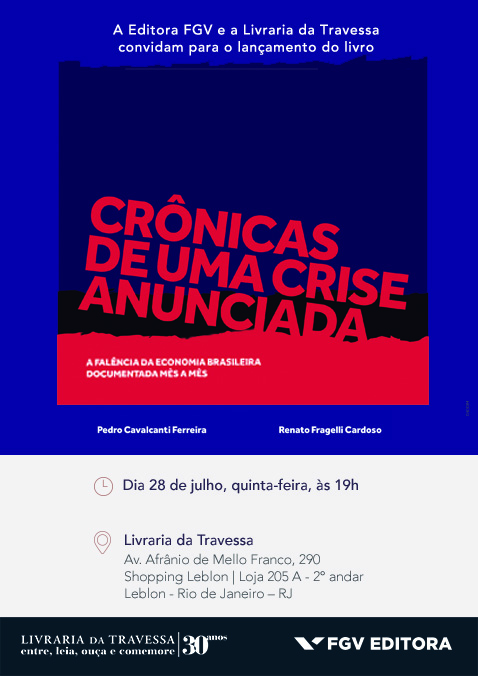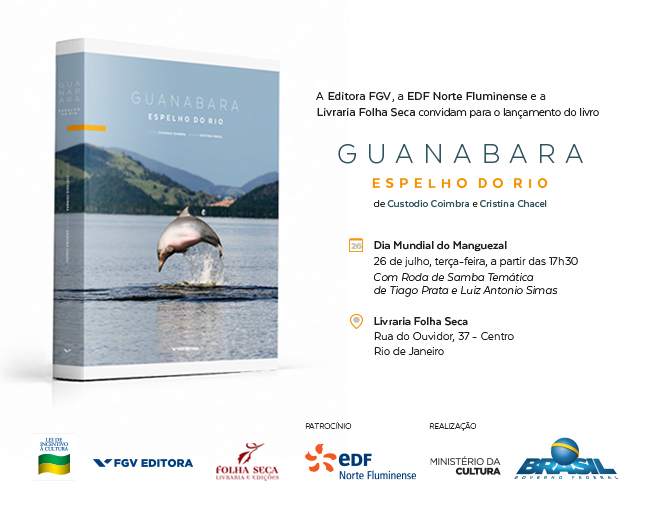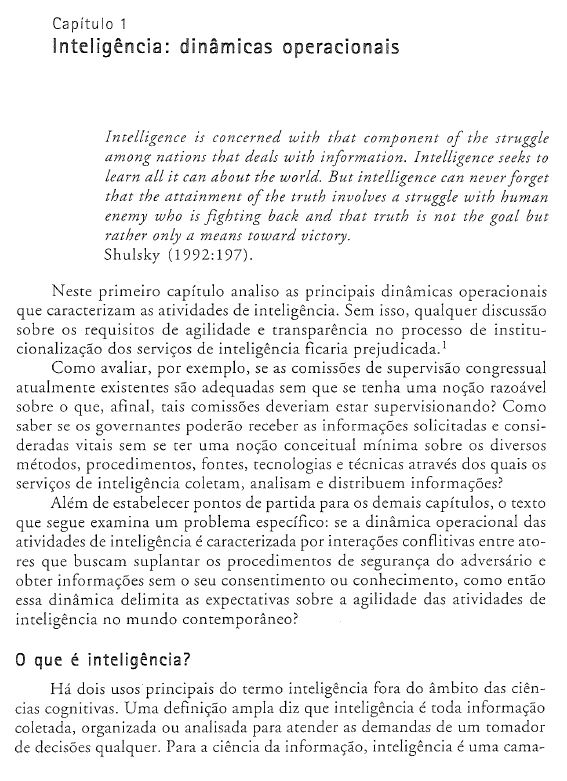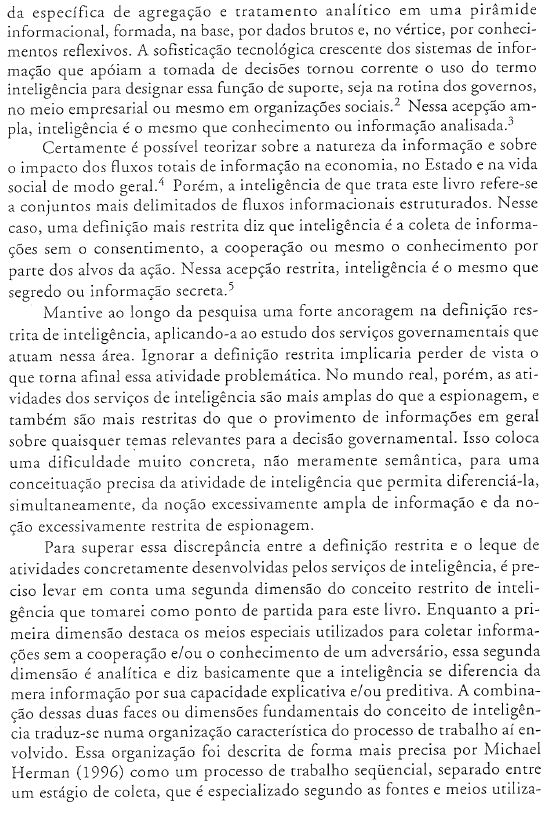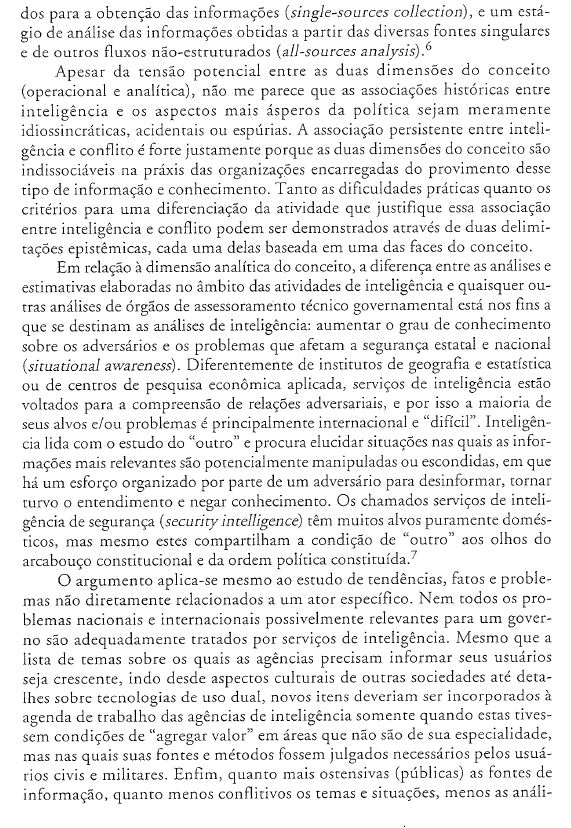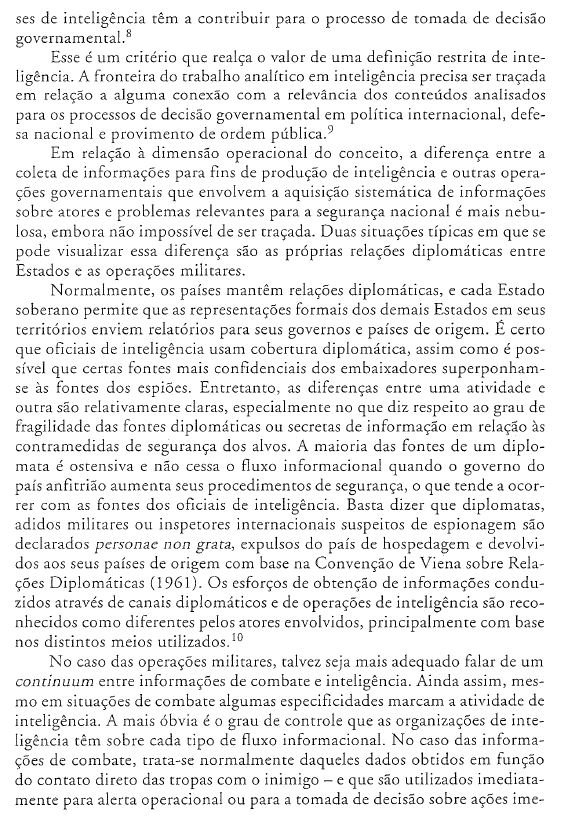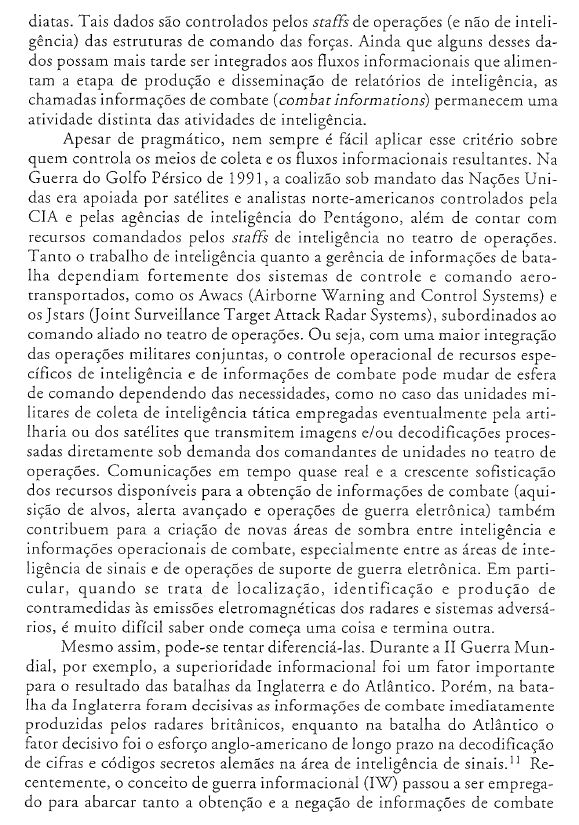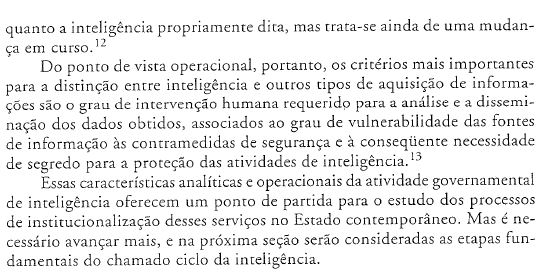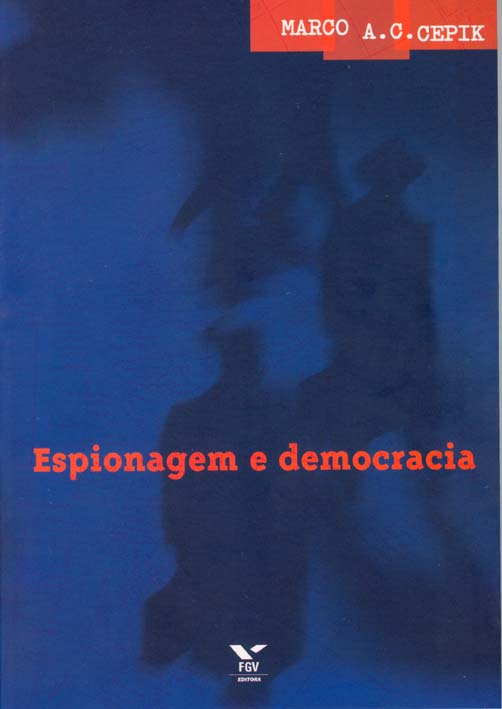Com o objetivo de melhor entender, em termos comparativos, a grande crise contemporânea de 2008, traduzimos a obra Nova História das grandes crises financeiras: uma perspectiva global, 1873-2008, de Carlos Marichal, com tradução de Eduardo Lessa Peixoto de Azevedo, que oferece uma síntese histórica das grandes crises financeiras do passado e de nossa época.
Confira parte da introdução do livro:
Entre 15 de setembro e fins de outubro de 2008, as bolsas e os sistemas bancários e hipotecários dos Estados Unidos e de grande parte do resto do mundo sofreram o efeito de um verdadeiro tsunami financeiro. Com extraordinária rapidez, entraram em colapso vários dos mais renomados bancos de investimento de Nova York, maior mercado de capitais do planeta, e estiveram a ponto de quebrar alguns dos principais bancos comerciais de Londres, maior mercado financeiro da Europa. Seguiu-se uma cadeia de pânico em bancos e bolsas que se estendeu em escala mundial e que tem sido apontada como a pior crise financeira em 80 anos.
Não passa um dia sem que se formulem novas perguntas em todo o mundo. Quais foram as causas dessa grande crise e dessa profunda recessão? Por que os banqueiros não previram os perigos e por que não tomaram medidas para desinflar as imensas bolhas financeiras antes de sua explosão? Serão suficientes e adequadas as medidas de resgate adotadas pelos governos e bancos centrais do planeta para assegurar uma recuperação econômica duradoura?
Os historiadores e os economistas têm dedicado importantes esforços nos últimos decênios a analisar algumas das grandes crises financeiras do passado e propor explicações para suas trajetórias. Porém, desde os anos 1990, os especialistas haviam prestado mais atenção nas crises financeiras dos países em desenvolvimento — especialmente na América Latina e na Ásia — que nas nações mais prósperas, com os mercados financeiros mais fortes. Existia uma espécie de consenso de que não podiam quebrar bancos de Nova York ou de Londres, os dois maiores e mais globalizados centros financeiros. E não havia uma consciência suficientemente clara das tendências mais perigosas e mais insidiosas que a globalização havia gerado no próprio coração dos sistemas financeiros mais avançados.
O gigantesco desastre que irrompeu no outono de 2008 não apenas era inesperado como parecia inexplicável: como pôde uma crise hipotecária provocar um colapso financeiro de escala sísmica? Essa mesma pergunta foi a que imediatamente se fizeram centenas de destacados economistas nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Um dos mais proeminentes analistas das crises — passadas e contemporâneas —, o professor Bradford DeLong, da Universidade da Califórnia em Berkeley, exclamou de maneira cândida: “Esta não era a crise financeira que estávamos esperando!”. Em poucas palavras, os acadêmicos não haviam compreendido a dimensão da crise hipotecária, nem vislumbravam que o sistema de financiamento das moradias, especialmente as hipotecas negociadas com setores humildes no país mais rico do mundo, pudesse ser o estopim de uma explosão financeira fenomenal. Que uma série de problemas submersos do mundo imobiliário estadunidense pudesse emergir como uma espécie de dragão implacável, com capacidade de devorar os bancos de investimento mais reputados e poderosos de Wall Street, parecia um conto fantástico e aterrorizador.
Muito mais grave era o fato de que tampouco o previram, com suficiente antecedência, as pessoas responsáveis por supervisionar a evolução bancária e financeira, em particular os dirigentes do Federal Reserve Bank dos Estados Unidos e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Porém, à medida que avançava e se estendia mundialmente o caos financeiro, as perguntas se multiplicavam — assim como a urgência de agir para apagar um incêndio que ameaçava arrasar o sistema de bancos e bolsas dos Estados Unidos e de vários países europeus, especialmente da Grã-Bretanha.
Uma das facetas mais singulares do colapso financeiro contemporâneo do biênio 2008-09 é que um bom número dos principais responsáveis pelas finanças dos Estados Unidos, da Europa e de muitos outros países tenha atuado com plena consciência histórica dos perigos de uma nova Grande Depressão. Nesse sentido, a história se converteu em um ator central do presente. E mais, pode-se apontar que esse fato tenha contribuído para evitar o colapso total dos mercados financeiros mundiais, o que era uma autêntica possibilidade em setembro de 2008. Os resgates acionados pelos governos foram enormes. No momento atual, os sistemas financeiros estão ainda na unidade de terapia intensiva, e o diagnóstico segue confidencial. Não obstante, a evoluçãoda economia mundial em 2010-12 indica que a recuperação econômica
se pôs em marcha em um número considerável de países, especialmente na Ásia Oriental e na América do Sul, e, com maior lentidão, nos Estados Unidos. Por conseguinte, para muitos analistas, a expressão mais adequada para descrever nossa época seria a de “Grande Recessão”, que caracteriza a evolução de boa parte da economia global no período 2008-11. De toda forma, o que deve ficar claro é que a crise de 2008 e 2009 não é de proporções menores. Causou mais falências e maior desemprego que qualquer outra desde os anos 1930-33. Adicionalmente, não têm precedentes históricos os enormes volumes de dívida pública que os países mais ricos têm acumulado para financiar os resgates bancários.
Com o objetivo de melhor entender, em termos comparativos, a grande crise contemporânea, o presente livro oferece uma síntese histórica das grandes crises financeiras do passado e de nossa época. O enfoque que adotamos consiste em situá-las no contexto internacional, fazendo uma distinção entre crises menores e crises financeiras maiores, as quais têm um impacto global. Quando estas se produzem, o resultado é um verdadeiro colapso dos mercados financeiros, nos bancos e nas bolsas de valores — de maneira conjunta — em um grande número de países de uma só vez. Sem dúvida, tanto a Grande Depressão dos anos 1930 quanto a crise de 2008-09 entram nessa categoria, mas podem-se identificar também outros episódios que tiveram grave impacto nas finanças globais.
No esforço por classificar e diagnosticar as características das crises, é pertinente citar o recente trabalho dos economistas matemáticos e teóricos Robert Barro e José F. Ursúa, que tem circulado desde março de 2008 e se intitula Stock market crashes and depressions. Esses pesquisadores reuniram informações sobre 25 países e um total de 195 pânicos em bolsas e 84 depressões ao longo de pouco mais de um século, porém dão ênfase à necessidade de identificar aqueles momentos em que ocorreu o maior número de pânicos em um curto período e, portanto, os colapsos econômicos mais graves. Afirmam
eles:
As principais crises econômicas mundiais em ordem de importância são a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, as crises dos inícios dos anos de 1920, e uma série de acontecimentos do pós-guerra, como as crises das dívidas latino-americanas nos anos de 1980 e as crises financeiras asiáticas (de 1997 e 1998). [Barro e Ursúa, s.d.]
Evidentemente, as grandes guerras têm características próprias, uma vez que os mercados deixam de funcionar com liberdade, sendo controlados pelos governos, ou são muito atingidos pelos conflitos. Não são, portanto, inteiramente comparáveis a crises econômicas, como a Grande Depressão e o colapso de 2008-09, porém não há dúvida de que esses acontecimentos constituem marcos fundamentais na história dos regimes monetários e financeiros do mundo no último século e meio.
É bem sabido que, ao longo do capitalismo moderno, se tem produzido um grande número de crises em bancos e em bolsas de valores em diferentes países, em geral com uma duração relativamente curta e sem converter-se em desastres globais. A história comparada fala-nos de paralelos notáveis nas causas e consequências das crises: essas costumam incluir uma sucessão de borbulhas e pânicos em bolsa ou em estabelecimentos bancários, de quebras de empresas e da ruína de muitos investidores, tanto em resultado de sua credulidade e/ou avareza quanto também pela ação de grandes especuladores e impostores. O auge e o colapso também costumam ver-se afetados pelo papel irresponsável das agências de qualificação de títulos, pelos efeitos da imprensa e por rumores e contágios, que alentam a transmissão do pânico.
Essas características dos mercados financeiros podem ser muito prejudiciais, mas não necessariamente provocam um colapso econômico em escala nacional ou internacional. Em contrapartida, as crises maiores são terremotos financeiros que, para serem mensurados, requerem sua própria escala Richter: atingem um mais alto nível de periculosidade e detêm um enorme potencial destrutivo. Seu desenlace depende da capacidade das elites financeiras e políticas dos países mais afetados para reagir de maneira rápida, enérgica e coordenada, assim como da confiança que deposita o público nas respostas adotadas. Ademais, hoje em dia fica bem claro — em meio a uma crise maior — que os mercados não se autorregulam, como se vinha apregoando nos últimos decênios. Quando os sistemas bancários e financeiros entram em colapso nos centros nevrálgicos do capitalismo, somente podem ser salvos pelos governos. Porém, o resgate dos sistemas econômico-financeiros é de enorme complexidade, tanto quanto as novas propostas e as inevitáveis regulamentações que visam a impedir uma nova ruína do sistema financeiro mundial. Pois, com efeito, cada uma das crises maiores costuma marcar o fim de uma época ou o início de outra no que se refere aos sistemas monetários e financeiros; ou seja, uma crise maior provoca uma mudança fundamental no desenho político da arquitetura financeira internacional.
O fato de que as grandes crises costumam converter-se em pontos de conexão entre uma época e outra sugere que, para entendê-las em toda a sua amplitude e em suas múltiplas consequências, é necessário ir mais além de um enfoque estritamente econômico. Esses eventos são tão complexos que sua compreensão exige uma atenção especial a suas causas econômicas, mas também é preciso observá-los por meio das lentes da política, das relações internacionais e da história. De fato, pode-se argumentar que uma crise constitui um momento-chave porque é quando a economia se torna objeto de atenção por parte da opinião pública, devido a seus múltiplos e severos impactos sobre a sociedade. De mais a mais, o colapso contemporâneo dos mercados financeiros em escala global tem despertado inúmeras questões acerca de por que a imensa maioria dos economistas e banqueiros fracassou em prever a catástrofe. Essa situação não deve voltar a repetir-se no futuro, dados os enormes custos humanos que implica. Não é justo pensar que sejam inevitáveis os sofrimentos e os desequilíbrios planetários causados pelas grandes crises. É preciso melhor análise e melhor capacidade de previsão.
Por outro lado, não há que se pressupor que a interpretação dos grandes problemas financeiros deve ser impenetrável ou incompreensível para o cidadão comum, que costuma sofrer, bem diretamente, os efeitos das crises. Nesse sentido, é conveniente que se abra o debate sobre suas causas e consequências, utilizando-se de uma linguagem simples e clara, que lhe permita entender como se entrelaçam as finanças, a política e as relações internacionais em conjunturas-chave. Este livro tem esse objetivo e, ao mesmo tempo, o de sugerir a importância das grandes questões que expressa a literatura
econômica sobre as crises financeiras e sua pertinência para melhor entender a conjuntura contemporânea.
Ao longo do último século e meio, os economistas e os historiadores econômicos têm-se proposto vez por outra uma série de interrogações fundamentais que continuam sendo motivo de investigação e debate porque tocam o coração do funcionamento do sistema capitalista, e, em particular, a esfera das finanças. Uma das perguntas clássicas consiste em saber se as crises são cíclicas. Essa era uma preocupação muito disseminada antes da Segunda Guerra Mundial, mas posteriormente perdeu interesse para a maioria dos economistas, até o final do século XX. Atualmente, é recolocada de uma nova forma. Com referência ao passado, os economistas e os historiadores econômicos têm-se perguntado se as crises financeiras são similares ou se cada uma é distinta e singular. Sobre esse tema retornaremos diversas vezes ao longo desta obra. Quais são os principais fatores considerados responsáveis por deflagrar uma crise financeira? Essa é uma grande questão, e, como veremos, diversos autores e escolas teóricas oferecem interpretações divergentes. Outro conjunto de investigações analisa o fenômeno do contágio ou de transmissão da crise. Como se transmite o pânico financeiro? Qual é a natureza do pânico bancário e que relação tem, por exemplo, com o desabamento das bolsas? Finalmente, como se resolvem os colapsos financeiros e econômicos? Quanto duram as recessões ou as mais profundas depressões? E qual é o
papel dos governos e dos bancos centrais, e daquela figura conhecida como emprestador de última instância, em reduzir o impacto de um descalabro financeiro?
Todas essas perguntas têm sido amplamente debatidas na literatura econômica atual e de outrora. As formas de analisá-las tornam-se cada vez mais sofisticadas e complexas, mas costumam ganhar em profundidade se for possível situá-las em um contexto histórico de longo prazo. Nos diferentes capítulos deste livro oferecemos uma primeira abordagem a alguns desses debates e à forma pela qual se foram incorporando à reflexão histórica. Pois não cabe dúvida de que a história oferece uma das formas mais abrangentes para ampliar nosso entendimento de fenômenos tão complexos como as grandes crises financeiras e o modo pelo qual têm transformado e estão transformando o mundo.
No presente volume, estudamos seis épocas consecutivas, porém diferentes, da história econômico-financeira do último século e meio, com base em uma ampla literatura de economistas e historiadores. Começamos por uma revisão das crises financeiras à época de uma globalização econômica preliminar, que se situa entre a derrocada de 1873 e a deflagração da Primeira Guerra Mundial em 1914. Passamos depois à análise do período de entreguerras e ao debate sobre as causas da Grande Depressão dos anos 1930, fazendo referência à ampla polêmica que sustentam os especialistas sobre o tema e que prossegue até nossos dias. No capítulo terceiro, exploramos o debate sobre uma grande questão: por que não houve crises financeiras importantes nos 30 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial? É evidente que as possíveis respostas a essa pergunta têm particular interesse para o momento atual. Em continuação, passamos a considerar os paradoxos da decolagem da nova fase de globalização econômico-financeira que se pode situar nos dois decênios que vão desde 1971, quando ocorreu o fim do sistema de Bretton Woods, até 1989, ano da queda do Muro de Berlim. No capítulo cinco, analisamos o período de 1990 até 2006, anos de globalização ainda mais intensa e perigosa que a anterior, que
se refletiu na multiplicação das crises financeiras em muitas nações do mundo. Finalmente, nas duas últimas seções, estuda-se o surpreendente colapso global dos anos 2008-09, dando ênfase tanto a suas causas quanto às possíveis consequências para o futuro relativamente próximo.
Nosso relato tem início no primeiro capítulo com uma síntese dos eventos-chave na evolução econômico-financeira do período de ascensão do capitalismo liberal em escala mundial (1870-1914), período muito similar, em muitos aspectos, ao de nosso tempo. Resumimos algumas das principais interpretações sobre a amplitude e as consequências da crise de 1873, que foi sem dúvida o maior colapso financeiro de sua época, embora prossiga o debate sobre se provocou uma depressão econômica mundial. A evidência histórica sugere que a gravidade dos pânicos financeiros e nas bolsas da época não impediu uma recuperação bastante rápida. A expansão do comércio mundial e dos fluxos internacionais de capitais desde meados do decênio de 1870 em diante impulsionou não apenas as economias dos países centrais como também as da periferia, contribuindo para um célere e poderoso processo de globalização econômica — o qual, por outro lado, ocorreu em tempos de surgimento do padrão ouro, que chegou a funcionar como eixo do sistema monetário internacional ao longo de vários decênios. Sob esse regime, alcançaram-se altas taxas de crescimento, apesar de um grau relativamente alto de volatilidade financeira. Nesse sentido, é necessário prestar atenção às características de uma sequência de bolhas e colapsos financeiros, incluindo a crise de 1890 e os pânicos bancários de 1893 e 1907, que resumimos com base em nova e importante literatura financeira.
Encerramos o primeiro capítulo com a crise de 1914, diretamente relacionada com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que marcou o final de um período de mais de 30 anos de grande crescimento econômico mundial, conhecido como a Belle Époque. Se bem que, a rigor, não se considere uma guerra como crise financeira, na prática, muitos conflitos internacionais têm efeitos devastadores e modificam profundamente a ordem econômico-financeira, nacional e internacional: no caso da Grande Guerra (1914-18), um recente livro de Niall Ferguson assim o demonstra, ao reunir os resultados de uma ampla reflexão sobre essa problemática (Ferguson, 1998). Com efeito, aquele imenso conflito debilitou de maneira importante o regime do padrão ouro em sua fase mais brilhante em escala internacional, embora não tenha implicado sua morte definitiva, pois se observou um breve renascimento em meados dos anos 1920.
Indubitavelmente, a maior crise financeira do capitalismo moderno ocorreu a partir de 1929 e se converteu na Grande Depressão — ainda que valha a pena sublinhar que nem todos os países do mundo tenham passado por esse colapso com igual intensidade. Esse é o tema de nosso segundo capítulo, porém deve-se ressaltar que há um grande debate sobre a causa do desastre. Para muitos, ainda que não para todos os autores que o têm estudado, o desabamento das bolsas e os subsequentes pânicos bancários asfixiaram as economias e desencadearam a queda mais pronunciada do comércio exterior mundial que se conheceu na história do capitalismo moderno. Por sua vez, essa queda provocou a contração da produção industrial e agrícola em numerosas nações, resultando que dezenas de milhões de pessoas perderam seus
empregos durante anos. Essas circunstâncias propiciaram um nacionalismo econômico acelerado e deflagraram uma corrida armamentista que haveria de acabar de forma trágica. Os dirigentes políticos de nossa época estão vivendo
à sombra daqueles acontecimentos que desembocaram na mais devastadora guerra mundial da história da humanidade.
De acordo com a visão tradicional, as origens da Grande Depressão derivam do crash de Wall Street, em 24 de outubro de 1929, e dos subsequentes desequilíbrios nos mercados financeiros dos Estados Unidos. Porém, por que se transmitiram com tal rapidez a grande parte do mundo? Prossegue hoje o debate sobre quais foram as causas desse espetacular colapso nas bolsas e da multiplicidade de pânicos bancários entre 1930 e 1933, com o consequente afundamento das economias reais, durante o período da Grande Depressão. A vasta literatura econômica e histórica sobre essa problemática reflete a amplitude das discussões e de sua complexidade. Como assinalou Ben Bernanke (ex-presidente do Federal Reserve Bank) em uma obra intitulada Essays on the Great Depression (2000), as causas domésticas vinculavam-se às internacionais. Nosso resumo dá ênfase à interconexão entre a trajetória descendente das economias e a rígida gestão do sistema monetário e bancário internacional em fins do decênio de 1920 e primeiros anos da década de 1930. Aqui
é inescapável a referência a um grande perito em história monetária, Barry Eichengreen, que, a partir de sua grande obra Golden fetters: the gold standard and the Great Depression (1992), formulou a explicação mais influente da relação entre a história econômica e a política internacional da época: em especial, confere destaque ao desempenho desigual do padrão ouro em diferentes países nas décadas de 1920 e 1930 e sua relação com o colapso posterior e os processos bem diversificados de recuperação econômica.
Em suma, a crise de 1929-30 foi uma combinação de pânicos nos bancos e nas bolsas, aguçados por crises monetárias e dívidas soberanas. A retração do crédito provocou amplos e profundos efeitos sobre aspectos concretos da economia real: indústria, agricultura, mineração, construção e comércio. O desastre econômico foi especialmente penetrante nos Estados Unidos e na Alemanha, mas afetou quase todos os países do mundo. Para entender as ramificações internacionais do colapso é fundamental recorrermos, entre outras obras, ao estudo clássico de Charles Kindleberger (1973) sobre a Grande
Depressão, que foi chave para impulsionar o campo da história econômica comparada. Nesse sentido, é importante assinalar que, depois de forte impacto inicial na economia mundial, se produziu uma recuperação a partir de 1932 em várias regiões: assim foi o caso do Japão, da maioria dos países do velho Império Britânico na Ásia e na África, e da maior parte dos países latino-americanos. Isso confirma um fenômeno comum a todas as crises, que essas afetam de maneira diferenciada as nações e as economias. Do que não resta dúvida é que a Grande Depressão tenha provocado mudanças radicais na arquitetura financeira internacional, as quais incluíram, inicialmente, o abandono do padrão ouro e, depois, o afundamento mais ou menos veloz da ordem financeira existente, entrando em uma etapa do mais crasso e agressivo nacionalismo econômico, político e militar.
Os historiadores prosseguem discutindo em que medida a prolongada crise econômico-financeira dos anos 1930 foi fator decisivo para criar as condições que favoreceram a deflagração da Segunda Guerra Mundial (1939-45).
Debate-se ainda se a Grande Depressão se encerrou com a guerra ou se o seu final deve ser considerado anterior. Está claro que o comércio internacional se recuperou de 1933 em diante, impulsionado pela expansão das taxas de investimento e de crescimento econômico em muitas nações. Se bem que seja certo que em muitas economias industriais o aumento do gasto público nos exércitos tenha constituído um elemento-chave de saída da crise, não implicava um retorno à normalidade financeira. Esse retorno não foi possível até a cessação do conflito mundial. Não obstante, desde 1944 se pôs em marcha
um plano para o reordenamento da regulamentação e da organização financeira global, conhecido no jargão dos economistas como o sistema de Bretton Woods. Esse sistema consistiu na criação e adoção de uma série de regras e de
instituições multilaterais que assentaram as bases de uma nova arquitetura e de uma dinâmica financeira internacional, que — em boa medida — se manteve em pé ao menos até 1971.
Durante o pós-guerra e ao longo de um quarto de século, houve poucos pânicos bancários, escassas quedas em bolsas e nenhuma crise financeira sistêmica. O que explica o êxito do sistema financeiro de Bretton Woods? Essa é uma questão central de nosso terceiro capítulo. Mais especificamente cabe perguntar: por que houve tão poucas crises financeiras no pós-guerra? Uma resposta respaldada por muitos pesquisadores é que tal se deveu ao crescimento econômico forte e sustentado que se experimentou em escala mundial desde o final dos anos 1940 até os anos 1970. Outra resposta complementar é que a estabilidade monetária e financeira estava estreitamente vinculada ao sistema de relações internacionais do pós-guerra. Esse enfoque é pertinente para aquela época, mas também para os nossos dias. Argumenta-se que a Guerra Fria teve efeitos paradoxais. Em que pese à constante competição, durante mais de 30 anos, entre Estados Unidos e União Soviética, para a conquista da hegemonia, na prática manteve-se um equilíbrio de poder.
E por isso, tanto no âmbito do socialismo real quanto no do capitalismo, sustentou-se uma relativa estabilidade monetária e financeira. De fato, não seria senão depois do abandono do sistema de Bretton Woods em 1971, sob a administração de Nixon e durante a Guerra do Vietnã, que se acentuaria a desestabilização monetária e financeira. Posteriormente, ao longo dos decênios de 1970 e 1980, iniciou-se uma nova fase da globalização financeira, cada vez menos regulada, que por etapas ganhou força, até completar-se com a fenomenal ruptura de 2008.
No quarto capítulo deste livro é analisado o auge do endividamento dos países latino-americanos na década de 1970, que precedeu o colapso das dívidas soberanas no decênio de 1980, o qual ameaçou sacudir o sistema bancário mundial. De fato, o conceito moderno de crise da dívida pode-se datar de agosto de 1982, quando o governo mexicano anunciou a seus credores estrangeiros que estava à beira da bancarrota. As implicações dessa notícia revelavam-se tão ameaçadoras que tanto os maiores bancos internacionais quanto o próprio governo dos Estados Unidos e o FMI se viram obrigados a atuar rapidamente para evitar um pânico generalizado. Logo se seguiram as suspensões de pagamentos de quase todos os governos latino-americanos e uma série de prolongadas recessões nos países da região. Sob todos os aspectos, essa sucessão de colapsos pode ser descrita como um conjunto de crises de dívidas soberanas com impacto global, sobretudo porque durante algum tempo ameaçaram os principais bancos de Estados Unidos, Japão e Europa. Nesse sentido, uma interrogação importante é: por que os grandes colapsos das dívidas externas dos anos 1980 se deram de maneira quase simultânea?
No quinto capítulo, sumarizamos os paradoxos financeiros da década de 1990. Cabe relembrar que, após a redução da crise da dívida externa dos países em desenvolvimento ao final dos anos 1980, se produziu um aumento enorme dos fluxos de capitais em escala global. Isso resultava, em boa medida, da crescente liberalização dos mercados financeiros, a qual, no caso específico de Londres, ficou conhecida como big bang. A globalização financeira, não obstante, teve efeitos contraditórios. Por uma parte, gerou uma recuperação econômica e uma extraordinária ascensão das bolsas nos Estados Unidos e — em menor grau — na Europa, desde aproximadamente 1994 até finais da década. Em contrapartida, nesse período diversos países latino-americanos voltaram a experimentar graves problemas financeiros, em particular o México (a crise financeira de 1995), o Brasil (as crises de 1997 e 1998) e a Argentina (2001-02). Ao mesmo tempo, entre 1997 e 1998, irromperam gravíssimas crises financeiras em cinco países asiáticos — Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Coreia do Sul —, que provocaram o naufrágio de suas economias e demandaram a organização de enormes resgates do FMI, entre outros organismos.
Para economistas como Paul Krugman, prêmio Nobel de 2008, tanto a prolongada crise financeira do Japão durante os anos 1990 quanto os colapsos dos chamados “mercados emergentes” da Ásia em 1997 antecipavam problemas globais mais sérios. Contudo, curiosamente, os especialistas financeiros não prestaram atenção suficiente aos desequilíbrios que estavam sendo gerados, em paralelo com a impressionante ascensão dos maiores mercados financeiros internacionais: Nova York e Londres. A pergunta central é: por que não houve maior clarividência com respeito aos perigos que apresentavam as mais importantes bolhas financeiras da história do capitalismo moderno?
Essa problemática nos leva, no capítulo sexto, a uma reflexão sobre a enorme crise, cada vez mais globalizada, que se iniciou em 2008 e que se aprofundou em 2009. Todo mundo tem-se perguntado se o colapso contemporâneo é equivalente aos maiores descalabros do passado. Debate-se também se poderia ser esse um momento de definição de mudanças transcendentais na economia mundial. Sem dúvida, uma das razões pelas quais o colapso financeiro contemporâneo se tem mostrado tão penetrante tem a ver diretamente com o colapso dos mercados de capitais e bancários nos Estados Unidos.
Quanto maiores sejam as economias e os mercados financeiros onde começa uma crise, maior será seu impacto.
É também importante considerar o grau de inter-relação dos mercados financeiros em escala internacional, fator que ajuda a explicar o fenômeno de contágio e transmissão, e a possibilidade de que se produza uma crise sistêmica. É por isso que neste livro se esboça o estudo das grandes crises no contexto da história global. Porém, qual é a natureza do contraponto entre o nacional e o internacional? Essa é uma pergunta essencial, mas de difícil resposta. No caso da crise de 2008, por exemplo, argumenta-se que as causas imediatas foram domésticas, porque residiam no enfraquecimento dos gigantescos mercados imobiliários dos Estados Unidos, ainda que não haja dúvida de que também se vinculavam ao fenômeno da globalização contemporânea, que se expressou por meio dos enormes fluxos de capitais que chegaram do exterior para alimentar os mercados de crédito e as bolsas de valores daquele país.
É cedo para que se tenha segurança sobre a natureza do desenlace da atual crise, ainda que se tenha tornado evidente que seu alcance seja bastante singular e que contenha uma combinação de fatores muito complexa: em 2008 entrelaçou-se uma enorme crise hipotecária com pânicos bancários, colapsos em bolsas e uma forte recessão mundial que ameaçou converter-se em depressão. Em algumas nações periféricas acenderam-se determinados sinais de crises cambiais em potencial, porém até o presente não se produziram nem crises de dívidas externas nem crises bancárias significativas nesses países. Ao contrário, tanto Ásia como Oriente Médio e América Latina têm demonstrado uma enorme força. Isso quer dizer que a periferia sofre menos do que o centro do torvelinho financeiro atual? Sem dúvida, para os países em vias de desenvolvimento essa é uma questão-chave, que ainda não tem resposta.
A trepidante conjuntura atual tem exigido o remapeamento dos problemas e diagnósticos tradicionais sobre as causas do colapso financeiro e, ainda, sobre o futuro do capitalismo nos anos vindouros. Nosso texto oferece uma amostra do amplo espectro de estudos e de fontes de informação sobre as maiores crises do último século e meio. Contudo, considerada a complexidade dos temas analisados, parece-nos fundamental sugerir leituras adicionais. Por isso, como complemento, incluímos uma bibliografia seleta ao final do livro.
(Continua)
Nova História das grandes crises financeiras: uma perspectiva global, 1873-2008
Autor: Carlos Marichal
Tradução: Eduardo Lessa Peixoto de Azevedo
Impresso: R$59
Ebook: R$42